Plim! Fernando Henrique Cardoso girou a cadeira e se aproximou do computador: “Vejamos se é algo importante”. Não era. Ao término de sua temporada anual na Universidade Brown, no minúsculo estado de Rhode Island, ao norte de Nova York, as mensagens que chegavam pelo correio eletrônico eram todas meio sem graça: questões administrativas, pedidos de alunos para agendamentos de última hora. O ex-presidente pelejava por mudar o horário de seu vôo para Little Rock, a capital do Arkansas, onde teria de estar dentro de dois dias. Fernando Henrique se via às voltas com o mundo bizantino dos e-tickets e suas infinitas alternativas. “Estou mal acostumado, as pessoas tomam conta de mim. No Brasil, são praticamente babás”, resignava-se, arrastando sem muita desenvoltura o mouse.
Era um tedioso dia de inverno, com largos intervalos de inatividade. Ainda assim, sua agenda indicava quatro compromissos: entrevista a um jornal da Flórida, duas conversas com alunos e jantar com o embaixador chinês nos Estados Unidos. FHC e os EUA não formam uma parceria ideal. A América, para ele, é como a madrinha excêntrica, que provê — convive-se com ela mais por necessidade que por gosto. Naquele dia, o ex-presidente se queixava dos hábitos alimentares de seus anfitriões: “Essa coisa de comer com as mãos, eu não sei fazer isso. E eles gostam de conversar enquanto comem sanduíche. Eu digo não: ou eu falo, ou eu como”.
Às 11 em ponto, três pessoas entraram na sala. Não que soubesse do que se tratava. Seu modus operandi é simples: as pessoas ligam, ele marca e seja o que Deus quiser. Atende a todos com inegável paciência. “Sou professor at large, o que significa que posso fazer o que eu quiser”. Ele se levantou abotoando o paletó azul-marinho. Havia trazido dois ternos para a temporada americana — o outro, de risca de giz —, comprados por 400 dólares cada na liquidação da loja de departamentos Sacks Fifth Avenue (“Ótimo negócio”, congratulou-se). “É uma entrevista?”, perguntou ao ver um gravador. A jornalista se apresentou: Jane Bussey, do Miami Herald. “Ela já ganhou um Pulitzer”, acrescentou a moça que a acompanhava, meio a troco de nada. “Ah”, FHC sorriu educadamente.
Durante a próxima meia hora, respondeu com entusiasmo a perguntas triviais, dando à jornalista a impressão de que suas perguntas eram melhores do que pareciam. Comunica-se com facilidade, apesar dos esbarrões no idioma. Ainda segue — e não abdicou de influenciar — a política no Brasil, mas longe do país suas preocupações são outras. América Latina, poder do sistema financeiro internacional e destino da democracia estão entre elas. Quando a jornalista chegou ao tema Hugo Chávez, FHC reagiu: “Vocês perguntam sobre a democracia na América Latina, mas a questão maior é o que acontecerá com a democracia americana. Marx e Tocqueville eram fascinados pela democracia de vocês, pela participação das pessoas na vida pública. Hoje estranhariam muito. Há uma grande mudança em curso. A força do sistema financeiro é tão grande, que acaba por transformar a essência do sistema. Como as corporações se integrarão a essa democracia?” Ele havia lido no Wall Street Journal daquele dia uma notícia que o impressionara: a tentativa de um grupo de investidores de tomar o controle acionário do New York Times das mãos da família Sulzberger, proprietária do jornal há mais de setenta anos. “É um perigo”, reclamou com a jornalista, que já guardava o gravador e agradecia.
Em tempos de rebuliço político na América Latina, pedem-lhe cada vez mais que opine sobre Chávez. Lula deixou de ter graça nas universidades americanas. “Ele perdeu pontos quando decidiu ser sensato. A sensatez não apaixona. Lula não quebra, Chávez quebra. Esse pessoal de esquerda gosta dos nietzschianos. Lula é cartesiano — a seu modo, pelo menos. Está sempre do lado do senso comum.”
Plim! “Vejamos”, disse, virando-se de novo na cadeira. Era a confirmação de que o vôo para Little Rock havia sido remarcado. Percebeu que teria de acordar às 5 e meia da manhã, o que de imediato o fez voltar aos desencontros com os Estados Unidos. “Ainda bem que aqui eu durmo cedo”, disse. “No clube em que fico hospedado, o jantar é servido das 17 às 20 horas. Mas me disseram que, se for muito necessário, podem fazer uma concessão.” Permitem-lhe jantar depois das 8? “Não”, esclarece com desalento. “Antes das 5.”
Ao meio-dia, um rapaz apareceu na porta. De esguelha, FHC deu uma espiada na agenda. Daniel Ferrante, paulista, 30 anos, desde 2 000 nos Estados Unidos, doutor em física por Brown e agora aluno do pós-doutorado. Tinha hora marcada. “Como posso te ajudar?”, perguntou o ex-presidente, indicando-lhe a mesa redonda. Ferrante se ajeitou na cadeira e, em voz baixa, disse: “Presidente, eu quero voltar. Então a minha pergunta é: existe um projeto de nação no Brasil?”
Fernando Henrique está instalado na sala 218 da Rhodes Suite, no Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies. É uma sala confortável e impessoal: bancada para o computador, mesa redonda para reuniões, duas fileiras de estantes repletas de journals de estudos latino-americanos, dezenas de exemplares do mesmo número. FHC guarda seus livros, não mais de vinte, na prateleira sobre o computador, ao alcance da mão. Uma grande janela dá para a rua. Brown significa honorários. “Quando deixei a presidência, fiquei assustado e me perguntei: como vou sobreviver?”
Alguns meses antes de terminar o segundo mandato, Fernando Henrique convidou um grupo de empresários para jantar no Alvorada, explicou-lhes que pensava criar uma fundação nos moldes das bibliotecas presidenciais americanas — conservaria ali toda a sua documentação presidencial e promoveria palestras e debates sobre o futuro do país — e pediu contribuições. Do encontro nasceu o Instituto Fernando Henrique Cardoso, com dotação inicial de 7 milhões de reais, sua base de operações no Brasil.
Fora do país, o ex-presidente firmou um contrato de cinco anos com a Universidade Brown. “Eles me pagam um dinheirão, 70 mil dólares por ano, com a obrigação de eu passar no mínimo quatro semanas aqui. Tirando os impostos, dá uns 5 mil por mês. Faz as contas, é muito bom. Antes recebi um convite de Harvard, não aceitei. Brown me pagava o dobro. A Ruth ficou indignada: ‘Mas é Harvard!’ Eu disse: ‘Ruth, a essa altura do campeonato, eu não preciso de glórias. Preciso é de dinheiro’. Nem sabia que dava pra ganhar esse dinheirão todo com uma palestra só. Fiquei cliente do Harry Walker, o mesmo agente do Clinton. Em média, me oferecem 40 mil dólares; ele fica com 20%. Minha vantagem é que eu me viro em quatro línguas, três delas muito bem. Em Praga, uma vez, como nós éramos um grupo de palestrantes, não cheguei a falar nem vinte minutos — pagaram 60 mil dólares. O Clinton chega a ganhar 150 mil.”
Fernando Henrique está à vontade no mundo. Itamar Franco não se deu bem em Roma e voltou para Juiz de Fora. José Sarney foi até o Amapá para poder retornar ao Senado. Collor passou anos em Miami, voltou a Maceió e agora está de novo em Brasília. Com FHC, há sempre a suspeita de que suas afinidades eletivas estejam mais ligadas a Paris ou Madri que a São Paulo ou Goiânia. Fora do país, ele tem prestígio em círculos acadêmicos e entre ex-governantes. No Brasil, tem influência, mas não poder. Segundo ele, o poder se mede pela quantidade de votos futuros e, por essa conta, seu cacife é nenhum. “Meu tempo passou. Queriam que eu concorresse ao governo de São Paulo. Eu disse: aí eu ganho e no dia seguinte tem rebelião em presídio e prefeito querendo encontro. O Senado é igual. Aquela convivência é muito desinteressante. Chega.” Fala com convicção, parece sincero: depois de trocar idéias com Chirac e Clinton, deve ser meio desanimadora a perspectiva de puxar conversa com Epitácio Cafeteira.
Por que, então, não se estabelecer no exterior? “Ainda me interesso pelo Brasil. É uma espécie de disciplina intelectual. Vivo bem em qualquer lugar, mas essa coisa de ser brasileiro é quase uma obrigação.” A palavra é forte. Significa, na lógica de FHC, comprometer-se com um país que continuará a ser medíocre: “Que ninguém se engane: o Brasil é isso mesmo que está aí. A saúde melhorou, a educação também e aos poucos a infra-estrutura se acertará. Mas não vai haver espetáculo do crescimento algum, nada que se compare à Índia ou à China. Continuaremos nessa falta de entusiasmo, nesse desânimo”.
“Qual é a tua área?”, pergunta a Daniel Ferrante. “Física teórica, partículas elementares, altas energias...” “Mas isso está muito fora de moda!”, interrompe-o o ex-presidente: “Houve um avanço tremendo no campo da física de partículas, mas faz tempo”. Imediatamente dá meia-volta: “Eu entendo nada de física, mas fui vizinho do Mario Schenberg”. Se a conversa fosse um jogo de xadrez, esse primeiro lance levaria o nome de abertura FHC: primeiro movimento, impressionar o interlocutor; segundo movimento, desarmar-se em seguida, quando a primeira impressão já está sedimentada. Ferrante sorriu: “É verdade, no momento a minha a área não é a mais popular”. O ex-presidente se acomodou na cadeira e passou a responder. Falou sem nenhuma pompa. (Ferrante descreveria o encontro como uma “conversa de cozinha” que lhe trouxe “a sensação de paz interior”.)
“Um projeto de nação...”, FHC começou. “A pergunta pressupõe que exista um centro decisório, alguém que planeja. Não há mais. O Brasil é um dos últimos países a ter Ministério do Planejamento; na América Latina, acabaram todos. É um dos efeitos do neoliberalismo. Dito isso, acho que tem lugar para você lá. Agora, você vai ganhar pouco...”
Não é o que inquieta Ferrante: “Emprego eu consigo”, diz o rapaz. “O senhor me perdoa, mas existe o projeto da UniLula, em São Bernardo, eu podia ir pra lá. E sei que vou ganhar pouco. Minha pergunta é outra: existe curiosidade no Brasil? Existe desejo de ciência?” Ele hesita antes de completar: “É que eu sinto essa obrigação de devolver. Minha idéia é criar um fórum de discussão na internet, uma rede de divulgação científica para a comunidade lusófona. Quero tornar o conhecimento acessível a mais gente. É possível, ou eu vou morrer na praia?”
“Não precisa morrer na praia, não. Mas repito: falta centro.” Fernando Henrique se aproxima de um dos temas que mais o têm ocupado, o da desintegração nacional: “Quais são as instituições que dão coesão a uma sociedade? Família, religião, partidos, escola. No Brasil, tudo isso fracassou. Na América Latina, em certos lugares, 50% das crianças não têm pai, a família se dissolveu. A religião preponderante é a católica, que vive uma crise danada depois que decidiu se lançar na política. As igrejas pentecostais são a própria expressão da fragmentação. Os partidos fracassaram. O último deles foi o PT, que cumpria um papel importante como aglutinador de entusiasmo. No meu governo, universalizamos o acesso à escola, mas pra quê? O que se ensina ali é um desastre. A única coisa que organiza o Brasil hoje é o mercado, e isso é dramático. O neoliberalismo venceu. Ao contrário do que pensam, contra a minha vontade”.
Meses antes, o ex-presidente já abordara o tema: “Em que momento nos sentimos uma coisa só, uma nação? Talvez só no futebol. O Carnaval é uma celebração. A parada de 7 de Setembro é uma palhaçada. Quem se sente irmanado no Brasil? O Exército, e talvez só ele. Os americanos têm os seus founding fathers. Pode ser uma bobagem, mas organiza a sociedade. A França tem os ideais da Revolução. O Brasil não tem nada. Eu disse para os homens de imaginação, para o Nizan Guanaes: olha, a imaginação do povo é igual à estrutura do mito do Lévi-Strauss, ou seja, é binária: existem o bem e o mal. Eu fui eleito presidente da República porque fiz o bem — no caso, o real. O real já está aí, eu disse. Chega uma hora em que a força dele acaba. O que vamos oferecer no lugar? Ninguém soube me dar essa resposta. Eu também não soube encontrá-la”. E, oscilando entre Lévi-Strauss e Nizan Guanaes, Fernando Henrique encerrou o assunto.
Daniel Ferrante agradeceu a conversa, embora tivesse saído da sala sem uma resposta clara. Meses depois, cumprindo seu plano original, estendeu a temporada nos Estados Unidos por mais um ano. Ainda não sabe quando volta para o Brasil e o que o espera aqui.
Providence, uma cidade pequena, ostenta como sua maior façanha gastronômica o recorde de lojas de donuts dos Estados Unidos. Fernando Henrique costuma almoçar nas ruas adjacentes ao campus. Ao sair do Watson Institute, caminha dois quarteirões e entra no restaurante Spice, tailandês. O cardápio traz fotografias dos pratos, todos a menos de 10 dólares. “Aqui pelo menos eu como um arrozinho com frango que lembra um pouco a comida do Brasil”, disse ao pedir.
Fernando Collor fizera dias antes seu primeiro discurso no Senado. Durante mais de três horas, comparara seu calvário ao de D. Pedro I, D. Pedro II, Getúlio Vargas e João Goulart, classificando de “grande farsa” o processo que o tirara da Presidência. Os parlamentares, quase sem exceção, se solidarizaram com o senador, Tasso Jereissati entre eles. A reação impressionou Fernando Henrique. “Li que o Collor sequer pagou os impostos sobre as sobras de campanha. Embolsou e pronto. Como pode? O pessoal do meu partido diz que o que ele fez é menos grave que os escândalos do PT. E isso lá é desculpa? O problema do Brasil não é nem o esfacelamento do Estado. É algo anterior: é a falta de cultura cívica. De respeito à lei. Sem isso, como fazer uma nação?”, pergunta, acabrunhado.
FHC volta a pé pelas alamedas do campus. Cruza com Richard Snyder, professor de sociologia. Snyder pergunta se no dia seguinte ele poderia conversar com seus alunos. “Qual o assunto?”, quis saber o ex-presidente. “Liderança na América Latina. A sua experiência”, responde o professor. “Ah! Se é pra falar de mim mesmo, então é fácil.” E com um sorriso: “É uma das coisas que mais gosto de fazer”.
Uma aluna o aguardava na porta da sala 218. FHC, como de hábito, não sabia do que se tratava. A garota, estudante de relações internacionais, havia marcado uma entrevista para o jornalzinho da faculdade e trazia um exemplar de The Accidental President of Brazil, as memórias de FHC, cheia de post-its espetados. O autor sorriu, garboso. As perguntas, quase colegiais — Por que o senhor publicou este livro? Qual foi a reação do público? O senhor escreve como ex-presidente ou como sociólogo? —, novamente receberam respostas elaboradas. A cada uma delas, a garota exclamava “Oh, thank you!” Ao explicar a recepção do público à obra, FHC não resistiu: “Na Amazon, os leitores avaliam os livros por um sistema de estrelinhas. My book is full of stars”. “Oh, thank you!”
Presidencial, de terno escuro e sobretudo azul-marinho pesado, às 2 da tarde do dia seguinte Fernando Henrique atravessa o campus ao lado do professor Snyder. Tem as mãos enfiadas nos bolsos. “Odeio frio”, murmura. Faz 4 graus. Logo antes de alcançarem o prédio, Snyder informa: “O curso se chama Desenvolvimento, mercados e estados”. Lutando com os cabelos que uma rajada de vento tornara selvagens, FHC comenta: “Mercados e estados? É um diálogo de surdos”. Na sala de aula, apertada, há cerca de cem estudantes. Um deles veio cochichar no ouvido do professor: “A gente vai ter que sair mais cedo pra protestar contra a presença do embaixador chinês”. Snyder suspira. Leva o convidado até uma cadeira espremida entre a primeira fila e o quadro-negro, pede silêncio e faz uma breve apresentação do palestrante, “um dos grandes teóricos do desenvolvimento”. FHC se levanta.
Abertura FHC II, a estratégia da auto-esculhambação: “Quero corrigir o professor de vocês. Não é verdade que estudo a questão do desenvolvimento há quarenta anos. Estudo há cinqüenta”. Funciona, em parte. Ouvem-se risadinhas. Toca um celular, alguém boceja, uma menina abre o caderno e, de caneta em punho, se prepara para anotar.
FHC fará uma recapitulação do conceito de desenvolvimento, da década de 60 até o presente. “Nosso trabalho era uma crítica ao capitalismo. Falávamos em dependência, em subdesenvolvimento, nunca em países ‘em desenvolvimento’, porque os países centrais não desejavam o desenvolvimento dos periféricos.” Didaticamente, explicita a pergunta que dominou sua carreira de sociólogo: “Como se desenvolver nesse quadro?” Os modelos da época vislumbravam uma só alternativa: ruptura e revolução. Explica que sua contribuição foi “introduzir complexidade” na teoria. Países de economia mais diversificada, como o Brasil, seriam capazes de se desenvolver com capitais externos. A posição teórica de Fernando Henrique afastou-o da opção revolucionária. O livro que escreveu com o sociólogo chileno Enzo Faletto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, até hoje sua obra mais importante, abriu caminho para uma reforma do sistema, dentro do sistema. Sessenta minutos depois, usará na conclusão o que lhe restou do marxismo: “É preciso ter consciência de que todos os processos são históricos e, portanto, passíveis de mudanças. Ao mesmo tempo, é preciso saber que as estruturas são resistentes e limitam as alternativas. Quando mudei da academia para a política, sabia o que podia ou não fazer. Não sei se isso é bom. Conhecer de antemão as conseqüências e as limitações pode ser frustrante”. Certamente, não permite pensar o impensável, ou, para usar um termo dele, não permite “quebrar”. “A lucidez é um estorvo”, declarou.
O grupo de alunos que vai protestar deixa a sala. Os que ficam fazem perguntas. Uma menina levanta a mão: “Qual a diferença entre ser ministro da Fazenda e presidente?” Ele não hesita: “O Brasil não tem guerras, não tem inimigos. É uma beleza ser chanceler. Nosso adversário era a inflação, e foi onde me jogaram, na Fazenda: é o pior emprego do mundo”.
No final da aula, já fora do prédio, cinco alunos o rodeiam. Apesar do frio, um rapaz ruivo e sardento está de sandália de dedo, camisa havaiana e uma toalha molhada em torno do pescoço. FHC, tentando domar os cabelos, se vira à esquerda e à direita para atender à diminuta platéia. Não podia estar mais feliz. “Eles gostam muito disso”, comenta minutos depois, a caminho da palestra do embaixador chinês. Para entrar no auditório, é preciso atravessar um corredor polonês de jovens que protestam. Entregam-lhe um panfleto que proclama: “Genocídio em Darfur — A China é cúmplice”. Ele sorri: “Como eu ia dizendo, é bom ser brasileiro: ninguém dá bola”.
No pequeno e tumultuado aeroporto de Providence, a fila no balcão da US Air se espichava em ziguezague até o meio do saguão. Passava um pouco das 7 da manhã. De terno, carregando na mão uma pasta e o sobretudo, o ex-presidente ia empurrando uma mala espantosamente vermelha. “As malas têm de ser berrantes, senão levam a sua sem querer.” Seu bilhete para Little Rock, com escala em Chicago, estava marcado para as 8 horas e 24 minutos. Quinze minutos depois, a fila não avançara um passo. FHC decide assuntar.
Descobrindo que o vôo seria operado pela Delta Airlines, cruzou o saguão até o balcão da companhia. Não havia filas. Entregou o passaporte e a passagem e pôs a mala na balança: 28 quilos, oito a mais do que lhe dava direito a classe econômica. Vem a conta: 50 dólares. “Expensive, no?” Abre a carteira. Na esperança de um desconto, tenta passar uma conversa: “Estou aqui há um mês, sou professor, são meus livros...” Nada. Paga resmungando e, a pedido da funcionária, arrasta a mala até a esteira dos raios X. Na fila da segurança, tira os sapatos, põe o casaco na bandeja, os sapatos, a pasta. “Não, não tenho laptop”, responde ao agente. Passou pelo detector de metais, recuperou os sapatos, sentou-se para calçá-los. Não há porte presidencial que resista.
“Eu podia pedir o acompanhamento do Secret Service” – privilégio pessoal, não necessariamente extensivo a todos os ex-chefes de Estado –, “o que evita essas filas, isso de tirar o sapato, mas aí os americanos sabem que estou aqui e vira uma chatice. Sou obrigado a ir a recepção, a jantar. Prefiro sozinho. Além do mais, não acho que minha honra ou a do Brasil caiam por terra abaixo quando tiro os sapatos...” Como não havia tido tempo de tomar café e o painel avisava que o vôo atrasaria, FHC entra numa lanchonete T.G.I Friday's. Corre os olhos pelo cardápio gorduroso e, desanimado, encomenda um misto quente. Entre goles de um café hediondo, relembra alguns dos homens que conheceu no poder.
“Tenho horror ao Bush, horror pessoal.” Tiveram o primeiro encontro na Casa Branca. “O Bush se gabou de que seria conhecido como o maior poluidor do planeta. ‘Vou abrir o Alasca para o petróleo. Podem reclamar, mas o mundo precisa que os Estados Unidos sejam fortes.’ O incrível é que ainda assim consegue ser um homem simpático, desses que dão soquinho no ombro da gente. Mas não sabe nada. Uma hora, falei da nossa diversidade racial, os espanhóis, portugueses, japoneses... Ele perguntou: ‘And do you have blacks?’ A Condoleezza deu um pulo: ‘Senhor presidente, o Brasil tem a maior população de negros fora da África!’ Ele não sabe nada”, recorda com desapreço.
Bill Clinton, Nelson Mandela e Felipe González são os três líderes que FHC mais admira. “O González e o Clinton são assim: quando entram na sala, todos se viram. São naturalmente maiores. Agora, o Mandela é a força moral. Até o Clinton se sente humilde quando se aproxima dele.” Com Chirac, se dá muito bem. São ambos hedonistas, antipuritanos. Putin é outra coisa, um obcecado pela força: “Vai reconstruir a Rússia. É um autocrata que foi subestimado no início. Eu teria medo do Putin”.
O avião decola com uma hora de atraso. FHC tenta cochilar, mas está num assento de corredor e é acordado duas vezes – a primeira, pelo passageiro da janela; a segunda, pelo do meio.
Com 76 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto O’Hare, em Chicago, é o mais movimentado dos Estados Unidos. Ao desembarcar no terminal A, Fernando Henrique é informado de que a conexão para Little Rock partirá do terminal C, dali a dezoito minutos. Para ir de um a outro, cruza-se por salões e corredores abarrotados. Tomam-se passagens subterrâneas. Escadas rolantes. Esteiras. Alças de conexão. Há gente por todo lado — dormindo, comendo, comprando, correndo, bocejando, gritando, espirrando, digitando. “Que venha a depressão”, murmura Fernando Henrique, olhando o relógio e apertando o passo.
A placa indica que é por ali. Depois, que é por ali. Logo adiante, aparecem duas setas – em desacordo. Entra-se por um corredor, volta-se atrás. Às 11 horas e 27 minutos, o ex-presidente alcança enfim o portão C-18. Aproxima-se num quase trote, braço esticado, passagem e passaporte à mão. A funcionária balança a cabeça. O vôo das 11 horas e 25 minutos fora encerrado havia alguns minutos. Fernando Henrique olha pelo vidro. O avião está ali, à vista, inatingível. “E a minha mala, que foi etiquetada para esse vôo?”, pergunta serenamente. “Deve seguir no próximo avião para Little Rock”, responde a funcionária, sem tirar os olhos dos cartões de embarque dos que não perderam o vôo. “E quando sai o próximo?”, continua o ex-presidente, imune ao desinteresse da moça. Com um suspiro eloqüente, ela deixa os cartões de lado e analisa o monitor: “Dentro de três horas. Mas é preciso ver se não está lotado”.
Na melhor das hipóteses, ele chegará para a palestra com folga de apenas uma hora e meia. Saca um celular da pasta — é a primeira e última vez que será visto com o aparelho nas próximas duas semanas — e tenta falar com Brown, para que o ajudem a avisar seus anfitriões sobre a conexão perdida. O telefone não funciona (ou ele não sabe operá-lo). Desiste, mas consegue remanejar a passagem. Como Inês é morta, decide investigar o cardápio de um restaurante italiano que descobre entre dois portões. Escolhe, e come sem pestanejar, um duvidoso fettuccine Alfredo, acompanhado de Coca light.
Serão quase duas horas de Chicago a Little Rock. Apertado num avião regional fabricado por canadenses — “canadenses miudinhos”, segundo a comissária de bordo —, Fernando Henrique retoma a narrativa de seu trajeto político e intelectual. Ele pertence a uma geração que teve a ambição de mudar a história. Ao chegar ao poder, constatou que as possibilidades de transformação eram limitadas; acertadamente ou não, julgou que inexistiam alternativas. Levou adiante seu projeto de governo com convicção pragmática, mas sem adesão ideológica — é o que se infere. “Fiz o que fiz faute de mieux”, afirma. “Lamento não ter podido contar com melhores instrumentos. Imagine, eu ser confundido com a idéia de Estado mínimo...”
Esse é seu drama. Quando está entre alunos e professores, gasta boa parte do tempo defendendo-se da tese de que sua agenda e seu legado pertencem ao ideário neoliberal. É enfático: “Acontece que nunca fui um idealista, no sentido de utópico. Sou um realista, sei até onde é possível ir. Há um momento em que a realidade se impõe. Sou um pragmático, no sentido americano. Diante do Estado inepto e da prevalência da burguesia estatal, privatizar era o jeito”. Tenta explicar: “Batizaram de Consenso de Washington a constatação de que o Estado estava falido e de que não se pode gastar o que não se tem; se tivessem batizado de Consenso de La Paz, não teria havido problema”.
Por trás da retórica do pragmatismo, detecta-se uma lassidão. No 18 Brumário – um dos três livros que FHC recomenda ao leitor no prefácio das suas memórias –, Marx fala em “verdades sem paixões” e “história sem acontecimento”. O sentimento é semelhante.
O avião estava prestes a aterrissar em Little Rock. FHC espiou pela janela “Parece o Mato Grosso...”, disse, com um muxoxo. No desembarque, esperavam-no dois funcionários da Biblioteca e a argelina Danielle Ardaillon, sua assistente por anos, uma mulher bonita, de rosto anguloso, que viera a Little Rock apenas para a ocasião. Há um outro brasileiro na chegada. Também estava viajando há mais de dez horas. Reparava agora, aflito, que às 5 da manhã, zonzo de sono, vestira paletó e calça de ternos diferentes e que não daria tempo de passar no hotel para trocar de roupa. “Sem problema”, tranqüilizou-o Fernando Henrique, “do Brasil eles esperam tudo.”
Com 200 mil habitantes, Little Rock seria desconhecida até dos americanos se não tivesse servido de trampolim para Bill Clinton, que está para a cidade como a torre Eiffel está para Paris. Na Clinton Avenue, pode-se entrar na Clinton Store e comprar bonecos Clinton que tocam sax, pequenos Clintons falantes (21 frases memoráveis do ex-presidente), camisetas e gravatas com seu rosto, livros de culinária com suas receitas prediletas. Ainda que o Arkansas seja a sede da Wal-Mart, a maior rede de varejo do mundo, Clinton é uma indústria de peso para o estado. O William J. Clinton Presidential Center domina a cidade. Inaugurado em 2004 a um custo de 165 milhões de dólares, reúne a biblioteca presidencial, escritórios administrativos e a Clinton School of Public Service, que oferece o único mestrado em serviço público do país.
A agenda de FHC lembra as excursões que fazem doze países em sete dias. Cada hora é minuciosamente ocupada. Das 16 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, levam-no a uma recepção no amplo apartamento pessoal de Clinton, no último andar da biblioteca, com vista infinita para a cidade, o rio e a planície. Clinton não está presente. Há políticos e empresários locais, gente da sociedade. Umas cem pessoas se espalham pelos cômodos. Todas sorriem institucionalmente. Um pianista negro tocando Garota de Ipanema. Em estantes repletas de livros meticulosamente arrumados, nota-se um ecletismo incapaz de refletir os interesses de um só leitor: madre Teresa de Calcutá ao lado de Naipaul, Edna O’Brien junto a tratados sobre protestantismo americano. A idéia de vigor e juventude, tão cara à imagem rock’n’roll que Clinton fez questão de projetar, se traduz em quadros de inspiração expressionista cujo tema quase invariável é o ex-presidente e seu sax; certos traços, elétricos, parecem ter sido feitos por um gato que, sem sucesso, tentou se agarrar à tela. Fernando Henrique é levado ao quarto dos Clinton: visita o guarda-roupa deles, o banheiro. Com rigor prussiano, o apartamento se esvazia às 17 horas e 25 minutos.
Os próximos quinze minutos determinam uma visita à biblioteca presidencial. O anfitrião é Mack McLarty, um homem de 61 anos, baixo, impecavelmente educado e mãos muito pequenas. Amigo de infância de Clinton, foi chefe de sua Casa Civil. O roteiro é compacto: réplica em tamanho natural do Salão Oval, arquivos com a documentação presidencial e, por fim, num golpe de coreografia perfeita, um grande painel intitulado Comunidade Global, com imensas fotografias dos doze líderes de que Bill Clinton se sentiu mais próximo. Entre eles, dois ex-presos políticos (o checo Vaclav Havel e o sul-africano Nelson Mandela), um ditador (o chinês Jian Zemin), um rei (Hussein, da Jordânia, que contribuiu para a construção da biblioteca) e Fernando Henrique, que sorri, envaidecido.
Das 17 horas e 45 minutos às 18 horas, descanso. FHC é levado a um quartinho com duas poltronas e um sofá curto. Tira a almofada da poltrona, ajeita-a na cabeceira do sofá, deita-se. Vira de lado e encolhe as pernas — a posição fetal é a única viável. Pede que apaguem a luz.
Às 18 horas e 10 minutos, McLarty apresenta “o mais bem-sucedido presidente da história do Brasil”. Da soleira do grande salão, o homenageado ouve as palavras que costumam acompanhar discursos sobre o país: “Amazônia”, “Garota de Ipanema” e, novidade recente, “etanol”. Na platéia, aguardam-no cerca de 300 pessoas, entre as quais o prefeito, o vice-governador, empresários e senhoras da sociedade local, além dos 21 alunos da Clinton School. O convidado está cansado, pede desculpas — gostaria de falar de improviso, mas estava viajando havia quase treze horas. Começa a ler sua palestra, “Desafio à democracia na América Latina”. Falta ao Brasil “a convicção profunda de que a lei conta”, dirá. Uma hora depois, encerra a conferência com um floreio retórico: “Hoje, só o mercado produz coesão. Mas o mercado é bom para produzir lucros, não valores”.
É aplaudido de pé, e pelos vinte minutos seguintes autografará uma pilha de The Accidental President of Brazil, além de posar para dezenas de fotos de celular. Sorri em todas, mas desiste de arrumar o cabelo, que a essa altura adquiriu vida própria. Consulta a agenda numa brecha: das 19 horas e 30 minutos às 21 hora, jantar na casa de McLarty.
Às 21 horas e 30 minutos, quinze horas depois de sair do seu quarto em Providence, FHC é deixado na porta do hotel. Faz seu próprio check-in.
Às 8 horas e 45 minutos, estava a postos para o vôo Delta com destino a Atlanta, com conexão às 15 horas para Raleigh Durham, na Carolina do Norte. Desta vez, bilhete de executiva. O avião pousou às 11 horas em Atlanta, sem atrasos, o que significaria quatro horas de espera. Fernando Henrique buscou uma área tranqüila para rever seus papéis e fazer emendas na conferência programada para dali a dois dias, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Sentou-se ao lado de uma senhora que folheava a revista People e chupava um picolé. Meia hora depois atinou que, se era executiva, então dava direito a sala VIP. “E eu sofrendo no meio do povo à toa”, deduz, recolhendo seus papéis à pasta.
Às 13 horas e 30 minutos, sai em busca de um restaurante, sempre espantado com a quantidade de gente, com a obesidade generalizada, com o excesso de tudo. Ao avistar dois assentos vazios no balcão de um bar, instala-se antes que sejam ocupados. Acima de sua cabeça, há três TVs ligadas em três canais diferentes, um deles de rap. “Este é um país muito barulhento”, constata, quase gritando para ser ouvido. Sua salada Caesar lhe chega direto da geladeira, envolta em celofane. Ele ajuda com Coca light.
Anima-se com o compromisso em Chapel Hill, onde estará em um de seus ambientes naturais. Suas reminiscências se dividem entre a vida acadêmica — que trata com seriedade — e a vida política — de que gosta, embora tente disfarçar com doses de ironia.
“O melhor professor que tive no Brasil foi o Antonio Candido. As aulas, impecáveis, começavam e terminavam no horário, sem um minuto a mais ou a menos. Um raciocínio límpido, extraordinário. Candido é meu amigo, a ligação dele com o PT jamais foi um entrave. Nunca tive problemas com pessoas que discordaram de mim politicamente. Roberto Schwarz é meu amigo, esteve em casa outro dia mesmo. Agora, quando a divergência escorrega para o terreno pessoal, aí eu me desaponto. Quando dizem que fiz isso ou aquilo em busca de vantagem pessoal, acho imperdoável. Foi por isso que acabei me afastando de dois amigos – e só de dois: o Chico de Oliveira e a Maria da Conceição Tavares”, disse, referindo-se ao sociólogo que foi seu colega no Cebrap e à economista filiada ao PT.
FHC sai em defesa de seu sucessor quando o tema são ataques pessoais. “Não acredito que Lula tenha práticas de enriquecimento pessoal”, diz. “O que há é que ele é um pouco leniente. O partido ajuda daqui, ajuda dali e ele vai deixando, acha que é normal. No fundo, não há nada de muito grave nisso. Mas era melhor dizer: fulano me ajudou a comprar o apartamento, o partido me deu tal dinheiro. Lula não pensa em dinheiro. Ele gosta do poder, e gosta da vida boa.” É semelhante sua opinião sobre José Genoino e José Dirceu: “Genoino não é desonesto, Dirceu também não. Dirceu é outra coisa...” Sorri. Espera o raciocínio se completar: “Dirceu é o Putin que fracassou”.
Dentre amigos e colaboradores, é imensa a admiração intelectual por Pérsio Arida e André Lara Resende. Lamenta que tenham se retirado da vida pública e deixado de produzir: “Não deviam ter parado tão cedo. É que existe essa mania de ganhar dinheiro. Ganharam, e agora não sabem o que fazer. Eu digo: ‘André, você não pode ficar assim, volta a trabalhar’. Ele fica lá com o aviãozinho dele, pra cima e pra baixo. É uma loucura”, diz, enquanto fecha a conta. Não guarda canhotos de cartão de crédito. “Ruth guarda todos. Eu não, sou muito desorganizado”, gesto de quem não liga para dinheiro ou privilégio de quem não precisa mais se preocupar com essas coisas.
Se há um político brasileiro de quem Fernando Henrique não gosta é Delfim Netto. Em seu cauteloso livro de memórias, A Arte da Política, trata praticamente todos os personagens com luvas de pelica. Delfim é a exceção. “Não gosto mesmo”, reitera. “Ele atrapalhou muito o real, mas isso não é o mais importante. Um brigadeiro me trouxe um documento, nem sei se isso mais tarde se tornou público. Era uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, Costa e Silva presidente. A questão era cassar ou não o Covas. O ministro da Marinha, Rademaker, era um duro, defendia a cassação. Costa e Silva, que no fundo era um bonachão, contemporizava: ‘Por que não cassamos sem tirar os direitos políticos?’ Rademaker argumentava que não ia adiantar, ele se reelegeria. Havia um impasse. Foi quando se manifestou o ministro da Fazenda, o Delfim: ‘Esse eu conheço, é de Santos, um comunista’. Aí acabou: cassaram. Delfim mentiu. Covas nunca foi comunista, não era sequer ligado à esquerda. Era um janista, um conservador. Tenho horror ao Delfim.”
Delfim Netto nega a história com veemência. Afirma que não se faziam atas de processos de cassação e que chegou a ajudar Covas a arrumar emprego depois da cassação. “Que o Fernando apareça com a ata”, desafia, “ou vai passar por mentiroso.”
O presidente está hospedado numa residência que pertence à Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, a mais antiga instituição pública de ensino superior dos Estados Unidos. As instalações são estupendas. Chão de tábua corrida, solenes sofás de couro, poltronas de espaldar alto, mesas de jacarandá, retratos a óleo de personagens históricos, cenas de caça e uma mesa de bilhar de pano vermelho. O quarto de Fernando Henrique tem cama com baldaquino.
Às 11 da manhã ele aparece no salão, de jeans. Junto à lareira, com uma equipe amadora de filmagem, espera-o o professor de sociologia Arturo Escobar. Ao se dar conta de que a entrevista será gravada, FHC declara: “Estos pantalones non son presidenciales”. Vai até o quarto e volta de blazer e gravata. As perguntas, bem elaboradas, retomam concepções que desenvolveu há décadas. Como de hábito, ele se vê desafiado a defender a continuidade entre suas idéias como sociólogo e as que implementou como presidente. O neoliberalismo é uma espécie de assombração que ele se vê forçado a exorcizar a cada entrevista.
“O que houve não foi uma ruptura epistemológica no meu trajeto intelectual, mas uma ruptura ontológica no mundo”, afirma. “No final da década de 80, não estávamos mais enfrentando teorias, mas realidade. Olhamos o que existia e estava tudo aos pedaços. Estávamos falidos. Fomos forçados a privatizar, não havia outro jeito. Mesmo assim, não privatizei tudo — porque não era necessário. Acredito no papel do Estado.” Para Fernando Henrique, seu verdadeiro legado acadêmico é de ordem metodológica e não ideológica. Foi uma lição que aprendeu com Florestan Fernandes: “Colete todos os dados, compreenda todos os pontos de vista”, ensinava Florestan. “Minha mente não é tomista, estou sempre ligado à realidade, nunca me orientei por abstrações.”
Reage à idéia de que a América Latina estaria se voltando para a esquerda: “Não é esquerda, é populismo: o líder falando diretamente com as massas, sem o intermédio das instituições”. Esse é um ponto crucial. Se Chávez é percebido como progressista, imediatamente FHC se torna um conservador, rótulo do qual tenta se livrar a todo custo. Repetirá inúmeras vezes que o populismo é autoritário e regressivo. “Esquerda clássica é o Allende, esse sim queria romper com o sistema capitalista. Chávez opera no nível ideológico. Na prática, ele vende para os americanos e a burguesia venezuelana está ganhando dinheiro”, argumenta.
Antes de almoçar, volta ao quarto para repassar a programação. Entre aulas, almoços, palestras, conversas com alunos e jantares, a agenda prevê um compromisso a cada duas horas. Receberá honorários? “Acho que sim. Essas coisas eles não conversam comigo, mas vou perguntar lá no Brasil, porque do jeito que estão me fazendo trabalhar, tomara que o dinheiro seja bom.” Torce para que chegue a 10 mil dólares, no mínimo.
Depois de três dias à base de lanchonetes de aeroporto, Fernando Henrique senta-se feliz à mesa de um restaurante de verdade. Como é domingo, o que encontra é um brunch. Desconfiado, investiga o conteúdo de salvas de prata e rescaldeiros. Pega um prato e se serve, não sem antes consultar o cartãozinho diante de cada iguaria. Evita combinações menos ortodoxas. Ao redor, pessoas misturam costeletas de carneiro com panquecas, salmão com rabanada. “A Ruth sempre diz que os Estados Unidos precisavam ler Lévi-Strauss. O cru e o cozido, o doce e o amargo, esses contrastes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles misturam tudo”, diz, apontando um prato vizinho com indícios de peixe e melancia.
Ele come lentamente. Fala das diferenças entre os dois grandes nomes de seu partido e, certo de que seu tempo ficou para trás, não precisa mais sopesar cada palavra. “Sou mesmo a única oposição, mas estou me lixando para o que o Lula faz. O problema é a continuidade do que foi feito. Serra quer ser presidente e então vai àquele encontro dos governadores em que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi posta em xeque. De concessão em concessão, a vaca vai pro brejo. Serra não disse nada porque vai se beneficiar com isso. Ele seria um bom presidente. Quebra lanças. Aécio é mais conservador, acomoda mais. Isso dito, politicamente Aécio é fortíssimo. Pode ser menos preparado que o Serra, mas é popularíssimo. Não precisa provar mais nada. Serra precisa. O governo dele em São Paulo é que decidirá, e o início não foi brilhante. Agora, o Aécio gosta demais da vida privada dele. Pode parecer banal, mas é assim que as coisas funcionam. Com a presidência, muda tudo. Como ele não poderia mais ter a liberdade de que goza hoje, prefere pensar que tem tempo pela frente.”
Fernando Henrique atravessa o campus em direção ao clube, onde descansará até o próximo compromisso. Gosta de conversar enquanto caminha a passos lentos, as mãos trançadas nas costas: “Sou cartesiano com um pouco de candomblé. Porque, no Brasil, sendo só cartesiano não se vai longe. Já o Lula é o Macunaíma, o brasileiro sem caráter, que se acomoda”. A frase não soa pejorativa nem parece comportar um juízo moral. Para ele, Lula é aquele que se amolda, que nunca bate pé ou explicita suas posições. Um camaleão.
FHC é capaz de elogiar adversários históricos e criticar aliados. “Os militares fizeram coisas bem-feitas. De certa maneira, construíram um Estado. Telecomunicações é coisa deles. Collor, este sim, seguiu uma receita neoliberal burra e destruiu o Estado. Mas, antes dele, quem realmente desmanchou a máquina do Estado fomos nós da oposição, o PMDB, no governo Sarney. Foi quando começou o loteamento dos cargos, todo mundo querendo uma fatia, uma sede tremenda e o Sarney entregando. Tudo foi trocado contra favores, uma vergonha. O regime militar tinha ocupado as empresas estatais, militares reformados em diretorias, essas coisas. Com o PMDB, o que se loteou foi a máquina do Estado: ministérios, hospitais, todo tipo de órgão, até o mais insignificante, tudo. O Estado desapareceu, virou patrimônio dos políticos.” O próprio Fernando Henrique, no entanto, ao chegar à Presidência, parece ter concluído que política no Brasil era assim mesmo. Protegeu os três ministérios que considerava essenciais — Saúde, Educação e Fazenda — e entregou o resto aos de sempre, sob o argumento de que era isso ou a paralisia. Acomodou-se, a seu modo. Renan Calheiros foi seu ministro da Justiça.
Depois do almoço, novo encontro, agora com alunos escolhidos por mérito e excelência. FHC chega às 16h em ponto e troca palavras com quem já está ali. Quando chega finalmente a professora, traz um exemplar de Dependência e Desenvolvimento. Para espanto de todos, Fernando Henrique estica o braço e, fulminante, furta-lhe o livro. “Vejamos que edição é esta”, diz. “É que eles nunca me informam qual a edição e não me pagam” — abertura FHC III, a do homem comum. Os vinte e tanto alunos estão ganhos. Diante de seu realismo cético, um rapaz quer saber: “Quem explica o mundo de hoje?” “O maior erro dos pensadores sociais clássicos foi o sonho de produzir um mundo homogêneo. Isso jamais acontecerá. Hoje, o que falta é uma síntese, uma atualização de Marx e os outros. Quem sabe você não a faz?”, devolve ao rapaz. “Se fizer, por favor me cite.” E encerra com o velho sorriso do sedutor em tempo integral.
De banho tomado e terno repassado, FHC assumia na noite seguinte o pódio do auditório de Chapel Hill. Era o seu quarto compromisso do dia, uma palestra para 500 pessoas. Numa sala adjacente, outra centena o acompanharia por um telão. Falou durante uma hora, lendo vinte páginas de texto. Estava cansado, as palavras em inglês se atropelavam. Para adiantar o expediente, foi comendo etapas do raciocínio, acrescentando and so on and so forth, “e assim por diante”, às opiniões sobre Hugo Chávez, Evo Morales, globalização, fracasso da democracia. Aplaudiram-no de pé, talvez mais como reconhecimento ao esforço evidente e à simpatia que à clareza das idéias. Depois de uma longa sessão de fotografias — a invenção dos celulares que fotografam foi um mau momento para as celebridades, mesmo as acadêmicas —, terminou a noite numa lanchonete de estudantes especializada em pizza em fatias. O jantar custou 6 dólares.
Às 8 horas da manhã, comia com gosto um prato de panquecas regadas a maple syrup, seguidas de morangos com iogurte. Ia respondendo a perguntas: como comem os supremos mandatários? Banquetes de Estado são suculentos? Como é a comida em Buckingham, por exemplo? “Péssima!”, garante. “Agora, é de uma formalidade extraordinária. Primeiro, a rainha vem te receber em Victoria Station. Aí nós entramos numa carruagem para o trajeto até o palácio. Como estava frio, eles estenderam uma manta. Eu do lado da Elizabeth, a manta por cima da gente. Pensei: Ai, meu Deus, agora é que minha perna encosta na da rainha.” No palácio, foi apresentado a seus aposentos: “Ela mostra tudo: abre as gavetas, abre os armários, mostra o banheiro, mostra o chuveiro, é estranhíssimo. Depois vem a troca de presentes. Só que o Itamaraty nunca me dizia o que eu ia dar e eu peguei o primeiro que estava na minha frente. Ela ficou espantadíssima: ‘But it is my horse!’ — era um óleo do cavalo dela. Fiquei contente, ela havia gostado. Só então me dei conta do desastre: eu tinha acabado de presentear a rainha com o presente que ela ia me dar. O Rubens Barbosa, o embaixador, preparara durante meses o jantar de homenagem que ofereceríamos na nossa embaixada. Os royals chegaram todos, e nos sentamos à mesa. A Margareth, que é meio diferente, às tantas gritou para a rainha, lá do outro lado da mesa: ‘Lilibeth, this wine is very bad!’ — aquele silêncio. A rainha ficou vermelha, furiosa. E não é que tinha razão? O vinho havia passado do ponto. Ela é divertida. Durante a recepção, apontava a Elizabeth e repetia: ‘The queen wants a dry martini’. E a rainha respondia, cada vez mais vermelhinha, bravíssima: ‘I do not want a dry martini’.”.
Fernando Henrique é Cavaleiro da Ordem de Bath: “Minhas filhas podem se casar na catedral de Westminster, eu posso ser enterrado lá e tenho direito a tomar banho com a rainha”. Não pretende exercer o terceiro privilégio e tentou em vão convencer a filha Bia a fazer uso do primeiro. Quanto ao segundo, “já disse à Ruth: junto o meu dinheirinho e quando morrer vou pra lá de avião, direto pra Westminster”. Ele brinca, mas gosta das liturgias do Velho Mundo. No Brasil, seria difícil manter qualquer sonho hierático. “Parada militar no Brasil é pobre pra burro”, observa o homem que teve de presidir a oito festejos de 7 de Setembro. “Brasileiro não sabe marchar, eles sambam. Somos o povo menos marcial do planeta.” Chateação sem tamanho: “A cada bandeira de regimento, a gente tinha de levantar, era um senta-levanta infindável”, lembra-se com um esgar de pavor. Sem falar dos cabelos: “Em setembro venta muito em Brasília, então o cabelo fica ao contrário”.
Fernando Henrique termina o café e segue para o aeroporto. Seu destino é Madri, com escala em Nova York, em classe executiva na travessia do Atlântico. Depois do jantar a bordo, alterna a leitura de A Marcha da Insensatez, da historiadora americana Barbara Tuchman (em tradução), com um thriller estrelado por Nicolas Cage. No Aeroporto de Barajas, de manhã, pela primeira vez recebe tratamento de ex-chefe de Estado. Um carro e dois funcionários do Itamaraty o aguardam na pista. É levado a uma sala onde alguém se encarrega dos trâmites de imigração e alfândega.
Dali a seis horas estaria sentado em torno de uma mesa em forma de U, numa sala confortável no subsolo do hotel Grand Meliá Fénix. Era a reunião do comitê executivo do Clube de Madri, que já presidira. A organização reúne 66 ex-governantes. Clinton é presidente honorário, o gigante ausente sobre o qual todos falam. Estão ali, entre outros, dois ex-presidentes da Colômbia, Andrés Pastrana e César Gaviria, que não larga o celular; as ex-presidentes da Irlanda e da Islândia, a severa Mary Robinson e a silenciosa Vigdis Finnbogadóttir; o ex-presidente de Moçambique Joaquim Chissano; os ex-primeiros-ministros da Bulgária e da Romênia Philip Dimitrov e Peter Roman (que passa parte da reunião folheando um jornal). À direita de FHC, está o ex-primeiro-ministro da Noruega (“Esse é novo, caiu há pouco tempo”, explicará mais tarde). Ricardo Lagos, do Chile, é o novo presidente do Clube.
É uma reunião árida. Questões administrativas, financeiras e de agenda são tratadas ao longo de três horas. O aperto fiscal parece premente. César Gaviria, dadas as dificuldades financeiras, chega a sugerir que o Clube vá buscar recursos junto a empresas espanholas. “Podíamos até pôr o logotipo delas naqueles painéis atrás de nós quando a gente fala em eventos...” A sugestão é prontamente rechaçada por Mary Robinson, com voz de chumbo: “Não me agradaria ver o Clube associado a determinadas empresas”.
Fernando Henrique sugere restringir um pouco a extensa agenda do ano: aquecimento global, Darfur, apoio à reforma constitucional no Equador, liberdade de associação em países muçulmanos da África, construção de uma sociedade democrática no Kosovo. Passam a uma longuíssima discussão — quarenta minutos — sobre a situação kosovar. Está em causa a conveniência ou não de enviar um representante do Clube a um seminário sobre a independência da região. Alguns membros fincam olhares perdidos nas paredes brancas, outros se distraem com rabisquinhos em papel timbrado do Clube.
À noite, Fernando Henrique vai a um restaurante especializado em cabrito, sua primeira refeição européia. Para quem veio de uma temporada nos Estados Unidos, a alegria é grande.
O ex-presidente dormiu bem aquela noite. Tão bem que, às 9 da manhã, um ônibus com todos os ex-governantes a bordo esperava por ele — em vão. O Clube de Madri co-patrocinava uma conferência internacional sobre cidades globais e era imperativo que seus membros chegassem na hora, sob pena de fazer naufragar o evento. Ricardo Lagos abriria a conferência. A responsável pelo protocolo, uma moça eficientíssima, decidiu que não esperava mais. O ônibus partiu com quinze minutos de atraso, a reboque de batedores que lhe abriam caminho para o centro de conferências. FHC surgiu no lobby do hotel a tempo apenas de ver o comboio se afastar. Esticou o braço e foi de táxi.
A primeira mesa-redonda, “Protagonismo da grande cidade e o papel das políticas públicas”, dura quase duas horas. Na primeira fila, César Gaviria dorme à larga, a cabeça para trás. Fernando Henrique cochila discretamente, com o rosto apoiado na mão, como se refletisse. Na segunda mesa, “Instrumentos ‘suaves’ de política urbanística”, caberá a ele sintetizar as idéias expostas. Duas horas depois, assume o microfone: “Não tenho muito a acrescentar porque minha única experiência com cidades foi a eleição que perdi para prefeito de São Paulo”, desdenha, numa típica abertura FHC II. Passa então a rechear sua fala com a “coesão mecânica” e a “coesão orgânica” de Durkheim (mais tarde, no táxi: “É o bê-á-bá da sociologia. Olhei em volta, vi que não tinha um sociólogo, mandei ver”), e citações ao sociólogo alemão Tönnies, que explora os conceitos de sociedade e comunidade ou, no original, Gemeinschaft e Gesellschaft, como soltou Fernando Henrique em bom sotaque. Foi o quanto bastou para inspirar pasmo e aplausos de admiração. (No mesmo táxi: “São as únicas palavras que sei em alemão”.)
No dia seguinte, Ruth Cardoso e a neta Julia juntaram-se a Fernando Henrique. A menina acabara de completar 18 anos e passaria uma semana viajando pela Espanha com os avós. Por volta das 11 horas, foram ao Museu Thyssen-Bornemisza, ver uma exposição temporária de retratos. Fernando Henrique faz fila diante do caixa, paga e volta exultante: “É a vitória do proletariado. Só 10 euros, pra mim, Ruth e Julia! E a moça ainda me pediu a carteira de identidade, pra comprovar se eu tinha mesmo 75 anos”.
O presidente admira um Picasso neoclássico — Olga na Cadeira, de 1924, à moda de Ingres —, o que lhe dará ocasião de praticar um de seus divertimentos prediletos: implicar com as idéias progressistas de dona Ruth. “Mas isso é absolutamente acadêmico”, ela se choca. “Ele só pintou porque ela estava cansada de ser retratada com dois olhos do mesmo lado. Deve ter pedido: ‘Faz um retrato bonito, vai’. Aí, ele fez.” FHC rebate: “Não é isso, não. É que Picasso é absolutamente genial. Dá cambalhota. É Deus”. Dona Ruth: “Gênio, mas não por isso. Pelo que pintou antes”. Ele: “É gênio, Ruth. Faz de tudo”. E, antecipando o gostinho, encerra o sparring: “Aliás, eu me identifico muito com Picasso”. Dona Ruth se vira para a neta e aconselha: “Não ouve isso, Julia”.
À noite, amigos convidam a família Cardoso para um show de flamenco. A mesa é colada ao palco. A cada arranco do dançarino, que bate furiosamente os pés no chão, o presidente recua na cadeira, assustado.
Para o último jantar de FHC em Madri, no dia seguinte, ele, dona Ruth, Julia e um casal de amigos vão a um restaurante simplíssimo, quase um botequim. Oito mesas, se tanto. O ex-presidente vai direto para a cozinha e volta feliz: “Ganhei quatro votos”, anuncia. As paredes são cobertas de fotografias — toureiros, políticos, o príncipe das Astúrias. “Vou ver as fotos”, diz, e levanta de novo. Chegam croquetes, morcela, aspargos, queijo. Ele se farta. “A Ruth tinha essa educação comunista com os filhos, essa história de dividir tudo, inclusive a comida boa que de vez em quando eu trazia pra casa. Depois de um tempo, passei a lamber o chocolate na frente deles, pra ninguém meter a mão.” “O camembert ele escondia no armário”, confirma Ruth Cardoso. De sobremesa, Fernando Henrique derruba um prato de arroz-doce e se encanta quando descobre que ali servem rabanada também. Come rabanada a valer. Ao saber quem é o cliente, dono e funcionários do restaurante pedem fotos. FHC volta à minúscula cozinha e, junto do forno, posa com quatro empregados, todos com cara de mexicano. “Pronto, agora consolidei o voto”, comemora. Alguém comenta: “Consolidou. No México”.
Ruth Cardoso registra tudo, sem dar muita atenção. Se há alguém que não cai nos números do marido, é ela. Conta de uma viagem a Buenos Aires, quando passeavam pelo bairro da Recoleta e foram reconhecidos por um ônibus de turistas brasileiros. Confusão instalada, desceram todos e começaram a bater fotos. O sorriso de FHC se abre feito uma cortina. “Olha só pra ele”, alfineta Ruth Cardoso. “Deviam ser todos petistas, Fernando, e você não passava de atração turística.” Ele não se dá por vencido: “Em restaurantes de Buenos Aires eu sou aplaudido quando entro. É que eu traí os interesses da pátria, então lá eles me adoram”. A neta Julia balança a cabeça: “Como é que ele diz essas barbaridades...”
Era um tedioso dia de inverno, com largos intervalos de inatividade. Ainda assim, sua agenda indicava quatro compromissos: entrevista a um jornal da Flórida, duas conversas com alunos e jantar com o embaixador chinês nos Estados Unidos. FHC e os EUA não formam uma parceria ideal. A América, para ele, é como a madrinha excêntrica, que provê — convive-se com ela mais por necessidade que por gosto. Naquele dia, o ex-presidente se queixava dos hábitos alimentares de seus anfitriões: “Essa coisa de comer com as mãos, eu não sei fazer isso. E eles gostam de conversar enquanto comem sanduíche. Eu digo não: ou eu falo, ou eu como”.
Às 11 em ponto, três pessoas entraram na sala. Não que soubesse do que se tratava. Seu modus operandi é simples: as pessoas ligam, ele marca e seja o que Deus quiser. Atende a todos com inegável paciência. “Sou professor at large, o que significa que posso fazer o que eu quiser”. Ele se levantou abotoando o paletó azul-marinho. Havia trazido dois ternos para a temporada americana — o outro, de risca de giz —, comprados por 400 dólares cada na liquidação da loja de departamentos Sacks Fifth Avenue (“Ótimo negócio”, congratulou-se). “É uma entrevista?”, perguntou ao ver um gravador. A jornalista se apresentou: Jane Bussey, do Miami Herald. “Ela já ganhou um Pulitzer”, acrescentou a moça que a acompanhava, meio a troco de nada. “Ah”, FHC sorriu educadamente.
Durante a próxima meia hora, respondeu com entusiasmo a perguntas triviais, dando à jornalista a impressão de que suas perguntas eram melhores do que pareciam. Comunica-se com facilidade, apesar dos esbarrões no idioma. Ainda segue — e não abdicou de influenciar — a política no Brasil, mas longe do país suas preocupações são outras. América Latina, poder do sistema financeiro internacional e destino da democracia estão entre elas. Quando a jornalista chegou ao tema Hugo Chávez, FHC reagiu: “Vocês perguntam sobre a democracia na América Latina, mas a questão maior é o que acontecerá com a democracia americana. Marx e Tocqueville eram fascinados pela democracia de vocês, pela participação das pessoas na vida pública. Hoje estranhariam muito. Há uma grande mudança em curso. A força do sistema financeiro é tão grande, que acaba por transformar a essência do sistema. Como as corporações se integrarão a essa democracia?” Ele havia lido no Wall Street Journal daquele dia uma notícia que o impressionara: a tentativa de um grupo de investidores de tomar o controle acionário do New York Times das mãos da família Sulzberger, proprietária do jornal há mais de setenta anos. “É um perigo”, reclamou com a jornalista, que já guardava o gravador e agradecia.
Em tempos de rebuliço político na América Latina, pedem-lhe cada vez mais que opine sobre Chávez. Lula deixou de ter graça nas universidades americanas. “Ele perdeu pontos quando decidiu ser sensato. A sensatez não apaixona. Lula não quebra, Chávez quebra. Esse pessoal de esquerda gosta dos nietzschianos. Lula é cartesiano — a seu modo, pelo menos. Está sempre do lado do senso comum.”
Plim! “Vejamos”, disse, virando-se de novo na cadeira. Era a confirmação de que o vôo para Little Rock havia sido remarcado. Percebeu que teria de acordar às 5 e meia da manhã, o que de imediato o fez voltar aos desencontros com os Estados Unidos. “Ainda bem que aqui eu durmo cedo”, disse. “No clube em que fico hospedado, o jantar é servido das 17 às 20 horas. Mas me disseram que, se for muito necessário, podem fazer uma concessão.” Permitem-lhe jantar depois das 8? “Não”, esclarece com desalento. “Antes das 5.”
Ao meio-dia, um rapaz apareceu na porta. De esguelha, FHC deu uma espiada na agenda. Daniel Ferrante, paulista, 30 anos, desde 2 000 nos Estados Unidos, doutor em física por Brown e agora aluno do pós-doutorado. Tinha hora marcada. “Como posso te ajudar?”, perguntou o ex-presidente, indicando-lhe a mesa redonda. Ferrante se ajeitou na cadeira e, em voz baixa, disse: “Presidente, eu quero voltar. Então a minha pergunta é: existe um projeto de nação no Brasil?”
Fernando Henrique está instalado na sala 218 da Rhodes Suite, no Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies. É uma sala confortável e impessoal: bancada para o computador, mesa redonda para reuniões, duas fileiras de estantes repletas de journals de estudos latino-americanos, dezenas de exemplares do mesmo número. FHC guarda seus livros, não mais de vinte, na prateleira sobre o computador, ao alcance da mão. Uma grande janela dá para a rua. Brown significa honorários. “Quando deixei a presidência, fiquei assustado e me perguntei: como vou sobreviver?”
Alguns meses antes de terminar o segundo mandato, Fernando Henrique convidou um grupo de empresários para jantar no Alvorada, explicou-lhes que pensava criar uma fundação nos moldes das bibliotecas presidenciais americanas — conservaria ali toda a sua documentação presidencial e promoveria palestras e debates sobre o futuro do país — e pediu contribuições. Do encontro nasceu o Instituto Fernando Henrique Cardoso, com dotação inicial de 7 milhões de reais, sua base de operações no Brasil.
Fora do país, o ex-presidente firmou um contrato de cinco anos com a Universidade Brown. “Eles me pagam um dinheirão, 70 mil dólares por ano, com a obrigação de eu passar no mínimo quatro semanas aqui. Tirando os impostos, dá uns 5 mil por mês. Faz as contas, é muito bom. Antes recebi um convite de Harvard, não aceitei. Brown me pagava o dobro. A Ruth ficou indignada: ‘Mas é Harvard!’ Eu disse: ‘Ruth, a essa altura do campeonato, eu não preciso de glórias. Preciso é de dinheiro’. Nem sabia que dava pra ganhar esse dinheirão todo com uma palestra só. Fiquei cliente do Harry Walker, o mesmo agente do Clinton. Em média, me oferecem 40 mil dólares; ele fica com 20%. Minha vantagem é que eu me viro em quatro línguas, três delas muito bem. Em Praga, uma vez, como nós éramos um grupo de palestrantes, não cheguei a falar nem vinte minutos — pagaram 60 mil dólares. O Clinton chega a ganhar 150 mil.”
Fernando Henrique está à vontade no mundo. Itamar Franco não se deu bem em Roma e voltou para Juiz de Fora. José Sarney foi até o Amapá para poder retornar ao Senado. Collor passou anos em Miami, voltou a Maceió e agora está de novo em Brasília. Com FHC, há sempre a suspeita de que suas afinidades eletivas estejam mais ligadas a Paris ou Madri que a São Paulo ou Goiânia. Fora do país, ele tem prestígio em círculos acadêmicos e entre ex-governantes. No Brasil, tem influência, mas não poder. Segundo ele, o poder se mede pela quantidade de votos futuros e, por essa conta, seu cacife é nenhum. “Meu tempo passou. Queriam que eu concorresse ao governo de São Paulo. Eu disse: aí eu ganho e no dia seguinte tem rebelião em presídio e prefeito querendo encontro. O Senado é igual. Aquela convivência é muito desinteressante. Chega.” Fala com convicção, parece sincero: depois de trocar idéias com Chirac e Clinton, deve ser meio desanimadora a perspectiva de puxar conversa com Epitácio Cafeteira.
Por que, então, não se estabelecer no exterior? “Ainda me interesso pelo Brasil. É uma espécie de disciplina intelectual. Vivo bem em qualquer lugar, mas essa coisa de ser brasileiro é quase uma obrigação.” A palavra é forte. Significa, na lógica de FHC, comprometer-se com um país que continuará a ser medíocre: “Que ninguém se engane: o Brasil é isso mesmo que está aí. A saúde melhorou, a educação também e aos poucos a infra-estrutura se acertará. Mas não vai haver espetáculo do crescimento algum, nada que se compare à Índia ou à China. Continuaremos nessa falta de entusiasmo, nesse desânimo”.
“Qual é a tua área?”, pergunta a Daniel Ferrante. “Física teórica, partículas elementares, altas energias...” “Mas isso está muito fora de moda!”, interrompe-o o ex-presidente: “Houve um avanço tremendo no campo da física de partículas, mas faz tempo”. Imediatamente dá meia-volta: “Eu entendo nada de física, mas fui vizinho do Mario Schenberg”. Se a conversa fosse um jogo de xadrez, esse primeiro lance levaria o nome de abertura FHC: primeiro movimento, impressionar o interlocutor; segundo movimento, desarmar-se em seguida, quando a primeira impressão já está sedimentada. Ferrante sorriu: “É verdade, no momento a minha a área não é a mais popular”. O ex-presidente se acomodou na cadeira e passou a responder. Falou sem nenhuma pompa. (Ferrante descreveria o encontro como uma “conversa de cozinha” que lhe trouxe “a sensação de paz interior”.)
“Um projeto de nação...”, FHC começou. “A pergunta pressupõe que exista um centro decisório, alguém que planeja. Não há mais. O Brasil é um dos últimos países a ter Ministério do Planejamento; na América Latina, acabaram todos. É um dos efeitos do neoliberalismo. Dito isso, acho que tem lugar para você lá. Agora, você vai ganhar pouco...”
Não é o que inquieta Ferrante: “Emprego eu consigo”, diz o rapaz. “O senhor me perdoa, mas existe o projeto da UniLula, em São Bernardo, eu podia ir pra lá. E sei que vou ganhar pouco. Minha pergunta é outra: existe curiosidade no Brasil? Existe desejo de ciência?” Ele hesita antes de completar: “É que eu sinto essa obrigação de devolver. Minha idéia é criar um fórum de discussão na internet, uma rede de divulgação científica para a comunidade lusófona. Quero tornar o conhecimento acessível a mais gente. É possível, ou eu vou morrer na praia?”
“Não precisa morrer na praia, não. Mas repito: falta centro.” Fernando Henrique se aproxima de um dos temas que mais o têm ocupado, o da desintegração nacional: “Quais são as instituições que dão coesão a uma sociedade? Família, religião, partidos, escola. No Brasil, tudo isso fracassou. Na América Latina, em certos lugares, 50% das crianças não têm pai, a família se dissolveu. A religião preponderante é a católica, que vive uma crise danada depois que decidiu se lançar na política. As igrejas pentecostais são a própria expressão da fragmentação. Os partidos fracassaram. O último deles foi o PT, que cumpria um papel importante como aglutinador de entusiasmo. No meu governo, universalizamos o acesso à escola, mas pra quê? O que se ensina ali é um desastre. A única coisa que organiza o Brasil hoje é o mercado, e isso é dramático. O neoliberalismo venceu. Ao contrário do que pensam, contra a minha vontade”.
Meses antes, o ex-presidente já abordara o tema: “Em que momento nos sentimos uma coisa só, uma nação? Talvez só no futebol. O Carnaval é uma celebração. A parada de 7 de Setembro é uma palhaçada. Quem se sente irmanado no Brasil? O Exército, e talvez só ele. Os americanos têm os seus founding fathers. Pode ser uma bobagem, mas organiza a sociedade. A França tem os ideais da Revolução. O Brasil não tem nada. Eu disse para os homens de imaginação, para o Nizan Guanaes: olha, a imaginação do povo é igual à estrutura do mito do Lévi-Strauss, ou seja, é binária: existem o bem e o mal. Eu fui eleito presidente da República porque fiz o bem — no caso, o real. O real já está aí, eu disse. Chega uma hora em que a força dele acaba. O que vamos oferecer no lugar? Ninguém soube me dar essa resposta. Eu também não soube encontrá-la”. E, oscilando entre Lévi-Strauss e Nizan Guanaes, Fernando Henrique encerrou o assunto.
Daniel Ferrante agradeceu a conversa, embora tivesse saído da sala sem uma resposta clara. Meses depois, cumprindo seu plano original, estendeu a temporada nos Estados Unidos por mais um ano. Ainda não sabe quando volta para o Brasil e o que o espera aqui.
Providence, uma cidade pequena, ostenta como sua maior façanha gastronômica o recorde de lojas de donuts dos Estados Unidos. Fernando Henrique costuma almoçar nas ruas adjacentes ao campus. Ao sair do Watson Institute, caminha dois quarteirões e entra no restaurante Spice, tailandês. O cardápio traz fotografias dos pratos, todos a menos de 10 dólares. “Aqui pelo menos eu como um arrozinho com frango que lembra um pouco a comida do Brasil”, disse ao pedir.
Fernando Collor fizera dias antes seu primeiro discurso no Senado. Durante mais de três horas, comparara seu calvário ao de D. Pedro I, D. Pedro II, Getúlio Vargas e João Goulart, classificando de “grande farsa” o processo que o tirara da Presidência. Os parlamentares, quase sem exceção, se solidarizaram com o senador, Tasso Jereissati entre eles. A reação impressionou Fernando Henrique. “Li que o Collor sequer pagou os impostos sobre as sobras de campanha. Embolsou e pronto. Como pode? O pessoal do meu partido diz que o que ele fez é menos grave que os escândalos do PT. E isso lá é desculpa? O problema do Brasil não é nem o esfacelamento do Estado. É algo anterior: é a falta de cultura cívica. De respeito à lei. Sem isso, como fazer uma nação?”, pergunta, acabrunhado.
FHC volta a pé pelas alamedas do campus. Cruza com Richard Snyder, professor de sociologia. Snyder pergunta se no dia seguinte ele poderia conversar com seus alunos. “Qual o assunto?”, quis saber o ex-presidente. “Liderança na América Latina. A sua experiência”, responde o professor. “Ah! Se é pra falar de mim mesmo, então é fácil.” E com um sorriso: “É uma das coisas que mais gosto de fazer”.
Uma aluna o aguardava na porta da sala 218. FHC, como de hábito, não sabia do que se tratava. A garota, estudante de relações internacionais, havia marcado uma entrevista para o jornalzinho da faculdade e trazia um exemplar de The Accidental President of Brazil, as memórias de FHC, cheia de post-its espetados. O autor sorriu, garboso. As perguntas, quase colegiais — Por que o senhor publicou este livro? Qual foi a reação do público? O senhor escreve como ex-presidente ou como sociólogo? —, novamente receberam respostas elaboradas. A cada uma delas, a garota exclamava “Oh, thank you!” Ao explicar a recepção do público à obra, FHC não resistiu: “Na Amazon, os leitores avaliam os livros por um sistema de estrelinhas. My book is full of stars”. “Oh, thank you!”
Presidencial, de terno escuro e sobretudo azul-marinho pesado, às 2 da tarde do dia seguinte Fernando Henrique atravessa o campus ao lado do professor Snyder. Tem as mãos enfiadas nos bolsos. “Odeio frio”, murmura. Faz 4 graus. Logo antes de alcançarem o prédio, Snyder informa: “O curso se chama Desenvolvimento, mercados e estados”. Lutando com os cabelos que uma rajada de vento tornara selvagens, FHC comenta: “Mercados e estados? É um diálogo de surdos”. Na sala de aula, apertada, há cerca de cem estudantes. Um deles veio cochichar no ouvido do professor: “A gente vai ter que sair mais cedo pra protestar contra a presença do embaixador chinês”. Snyder suspira. Leva o convidado até uma cadeira espremida entre a primeira fila e o quadro-negro, pede silêncio e faz uma breve apresentação do palestrante, “um dos grandes teóricos do desenvolvimento”. FHC se levanta.
Abertura FHC II, a estratégia da auto-esculhambação: “Quero corrigir o professor de vocês. Não é verdade que estudo a questão do desenvolvimento há quarenta anos. Estudo há cinqüenta”. Funciona, em parte. Ouvem-se risadinhas. Toca um celular, alguém boceja, uma menina abre o caderno e, de caneta em punho, se prepara para anotar.
FHC fará uma recapitulação do conceito de desenvolvimento, da década de 60 até o presente. “Nosso trabalho era uma crítica ao capitalismo. Falávamos em dependência, em subdesenvolvimento, nunca em países ‘em desenvolvimento’, porque os países centrais não desejavam o desenvolvimento dos periféricos.” Didaticamente, explicita a pergunta que dominou sua carreira de sociólogo: “Como se desenvolver nesse quadro?” Os modelos da época vislumbravam uma só alternativa: ruptura e revolução. Explica que sua contribuição foi “introduzir complexidade” na teoria. Países de economia mais diversificada, como o Brasil, seriam capazes de se desenvolver com capitais externos. A posição teórica de Fernando Henrique afastou-o da opção revolucionária. O livro que escreveu com o sociólogo chileno Enzo Faletto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, até hoje sua obra mais importante, abriu caminho para uma reforma do sistema, dentro do sistema. Sessenta minutos depois, usará na conclusão o que lhe restou do marxismo: “É preciso ter consciência de que todos os processos são históricos e, portanto, passíveis de mudanças. Ao mesmo tempo, é preciso saber que as estruturas são resistentes e limitam as alternativas. Quando mudei da academia para a política, sabia o que podia ou não fazer. Não sei se isso é bom. Conhecer de antemão as conseqüências e as limitações pode ser frustrante”. Certamente, não permite pensar o impensável, ou, para usar um termo dele, não permite “quebrar”. “A lucidez é um estorvo”, declarou.
O grupo de alunos que vai protestar deixa a sala. Os que ficam fazem perguntas. Uma menina levanta a mão: “Qual a diferença entre ser ministro da Fazenda e presidente?” Ele não hesita: “O Brasil não tem guerras, não tem inimigos. É uma beleza ser chanceler. Nosso adversário era a inflação, e foi onde me jogaram, na Fazenda: é o pior emprego do mundo”.
No final da aula, já fora do prédio, cinco alunos o rodeiam. Apesar do frio, um rapaz ruivo e sardento está de sandália de dedo, camisa havaiana e uma toalha molhada em torno do pescoço. FHC, tentando domar os cabelos, se vira à esquerda e à direita para atender à diminuta platéia. Não podia estar mais feliz. “Eles gostam muito disso”, comenta minutos depois, a caminho da palestra do embaixador chinês. Para entrar no auditório, é preciso atravessar um corredor polonês de jovens que protestam. Entregam-lhe um panfleto que proclama: “Genocídio em Darfur — A China é cúmplice”. Ele sorri: “Como eu ia dizendo, é bom ser brasileiro: ninguém dá bola”.
No pequeno e tumultuado aeroporto de Providence, a fila no balcão da US Air se espichava em ziguezague até o meio do saguão. Passava um pouco das 7 da manhã. De terno, carregando na mão uma pasta e o sobretudo, o ex-presidente ia empurrando uma mala espantosamente vermelha. “As malas têm de ser berrantes, senão levam a sua sem querer.” Seu bilhete para Little Rock, com escala em Chicago, estava marcado para as 8 horas e 24 minutos. Quinze minutos depois, a fila não avançara um passo. FHC decide assuntar.
Descobrindo que o vôo seria operado pela Delta Airlines, cruzou o saguão até o balcão da companhia. Não havia filas. Entregou o passaporte e a passagem e pôs a mala na balança: 28 quilos, oito a mais do que lhe dava direito a classe econômica. Vem a conta: 50 dólares. “Expensive, no?” Abre a carteira. Na esperança de um desconto, tenta passar uma conversa: “Estou aqui há um mês, sou professor, são meus livros...” Nada. Paga resmungando e, a pedido da funcionária, arrasta a mala até a esteira dos raios X. Na fila da segurança, tira os sapatos, põe o casaco na bandeja, os sapatos, a pasta. “Não, não tenho laptop”, responde ao agente. Passou pelo detector de metais, recuperou os sapatos, sentou-se para calçá-los. Não há porte presidencial que resista.
“Eu podia pedir o acompanhamento do Secret Service” – privilégio pessoal, não necessariamente extensivo a todos os ex-chefes de Estado –, “o que evita essas filas, isso de tirar o sapato, mas aí os americanos sabem que estou aqui e vira uma chatice. Sou obrigado a ir a recepção, a jantar. Prefiro sozinho. Além do mais, não acho que minha honra ou a do Brasil caiam por terra abaixo quando tiro os sapatos...” Como não havia tido tempo de tomar café e o painel avisava que o vôo atrasaria, FHC entra numa lanchonete T.G.I Friday's. Corre os olhos pelo cardápio gorduroso e, desanimado, encomenda um misto quente. Entre goles de um café hediondo, relembra alguns dos homens que conheceu no poder.
“Tenho horror ao Bush, horror pessoal.” Tiveram o primeiro encontro na Casa Branca. “O Bush se gabou de que seria conhecido como o maior poluidor do planeta. ‘Vou abrir o Alasca para o petróleo. Podem reclamar, mas o mundo precisa que os Estados Unidos sejam fortes.’ O incrível é que ainda assim consegue ser um homem simpático, desses que dão soquinho no ombro da gente. Mas não sabe nada. Uma hora, falei da nossa diversidade racial, os espanhóis, portugueses, japoneses... Ele perguntou: ‘And do you have blacks?’ A Condoleezza deu um pulo: ‘Senhor presidente, o Brasil tem a maior população de negros fora da África!’ Ele não sabe nada”, recorda com desapreço.
Bill Clinton, Nelson Mandela e Felipe González são os três líderes que FHC mais admira. “O González e o Clinton são assim: quando entram na sala, todos se viram. São naturalmente maiores. Agora, o Mandela é a força moral. Até o Clinton se sente humilde quando se aproxima dele.” Com Chirac, se dá muito bem. São ambos hedonistas, antipuritanos. Putin é outra coisa, um obcecado pela força: “Vai reconstruir a Rússia. É um autocrata que foi subestimado no início. Eu teria medo do Putin”.
O avião decola com uma hora de atraso. FHC tenta cochilar, mas está num assento de corredor e é acordado duas vezes – a primeira, pelo passageiro da janela; a segunda, pelo do meio.
Com 76 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto O’Hare, em Chicago, é o mais movimentado dos Estados Unidos. Ao desembarcar no terminal A, Fernando Henrique é informado de que a conexão para Little Rock partirá do terminal C, dali a dezoito minutos. Para ir de um a outro, cruza-se por salões e corredores abarrotados. Tomam-se passagens subterrâneas. Escadas rolantes. Esteiras. Alças de conexão. Há gente por todo lado — dormindo, comendo, comprando, correndo, bocejando, gritando, espirrando, digitando. “Que venha a depressão”, murmura Fernando Henrique, olhando o relógio e apertando o passo.
A placa indica que é por ali. Depois, que é por ali. Logo adiante, aparecem duas setas – em desacordo. Entra-se por um corredor, volta-se atrás. Às 11 horas e 27 minutos, o ex-presidente alcança enfim o portão C-18. Aproxima-se num quase trote, braço esticado, passagem e passaporte à mão. A funcionária balança a cabeça. O vôo das 11 horas e 25 minutos fora encerrado havia alguns minutos. Fernando Henrique olha pelo vidro. O avião está ali, à vista, inatingível. “E a minha mala, que foi etiquetada para esse vôo?”, pergunta serenamente. “Deve seguir no próximo avião para Little Rock”, responde a funcionária, sem tirar os olhos dos cartões de embarque dos que não perderam o vôo. “E quando sai o próximo?”, continua o ex-presidente, imune ao desinteresse da moça. Com um suspiro eloqüente, ela deixa os cartões de lado e analisa o monitor: “Dentro de três horas. Mas é preciso ver se não está lotado”.
Na melhor das hipóteses, ele chegará para a palestra com folga de apenas uma hora e meia. Saca um celular da pasta — é a primeira e última vez que será visto com o aparelho nas próximas duas semanas — e tenta falar com Brown, para que o ajudem a avisar seus anfitriões sobre a conexão perdida. O telefone não funciona (ou ele não sabe operá-lo). Desiste, mas consegue remanejar a passagem. Como Inês é morta, decide investigar o cardápio de um restaurante italiano que descobre entre dois portões. Escolhe, e come sem pestanejar, um duvidoso fettuccine Alfredo, acompanhado de Coca light.
Serão quase duas horas de Chicago a Little Rock. Apertado num avião regional fabricado por canadenses — “canadenses miudinhos”, segundo a comissária de bordo —, Fernando Henrique retoma a narrativa de seu trajeto político e intelectual. Ele pertence a uma geração que teve a ambição de mudar a história. Ao chegar ao poder, constatou que as possibilidades de transformação eram limitadas; acertadamente ou não, julgou que inexistiam alternativas. Levou adiante seu projeto de governo com convicção pragmática, mas sem adesão ideológica — é o que se infere. “Fiz o que fiz faute de mieux”, afirma. “Lamento não ter podido contar com melhores instrumentos. Imagine, eu ser confundido com a idéia de Estado mínimo...”
Esse é seu drama. Quando está entre alunos e professores, gasta boa parte do tempo defendendo-se da tese de que sua agenda e seu legado pertencem ao ideário neoliberal. É enfático: “Acontece que nunca fui um idealista, no sentido de utópico. Sou um realista, sei até onde é possível ir. Há um momento em que a realidade se impõe. Sou um pragmático, no sentido americano. Diante do Estado inepto e da prevalência da burguesia estatal, privatizar era o jeito”. Tenta explicar: “Batizaram de Consenso de Washington a constatação de que o Estado estava falido e de que não se pode gastar o que não se tem; se tivessem batizado de Consenso de La Paz, não teria havido problema”.
Por trás da retórica do pragmatismo, detecta-se uma lassidão. No 18 Brumário – um dos três livros que FHC recomenda ao leitor no prefácio das suas memórias –, Marx fala em “verdades sem paixões” e “história sem acontecimento”. O sentimento é semelhante.
O avião estava prestes a aterrissar em Little Rock. FHC espiou pela janela “Parece o Mato Grosso...”, disse, com um muxoxo. No desembarque, esperavam-no dois funcionários da Biblioteca e a argelina Danielle Ardaillon, sua assistente por anos, uma mulher bonita, de rosto anguloso, que viera a Little Rock apenas para a ocasião. Há um outro brasileiro na chegada. Também estava viajando há mais de dez horas. Reparava agora, aflito, que às 5 da manhã, zonzo de sono, vestira paletó e calça de ternos diferentes e que não daria tempo de passar no hotel para trocar de roupa. “Sem problema”, tranqüilizou-o Fernando Henrique, “do Brasil eles esperam tudo.”
Com 200 mil habitantes, Little Rock seria desconhecida até dos americanos se não tivesse servido de trampolim para Bill Clinton, que está para a cidade como a torre Eiffel está para Paris. Na Clinton Avenue, pode-se entrar na Clinton Store e comprar bonecos Clinton que tocam sax, pequenos Clintons falantes (21 frases memoráveis do ex-presidente), camisetas e gravatas com seu rosto, livros de culinária com suas receitas prediletas. Ainda que o Arkansas seja a sede da Wal-Mart, a maior rede de varejo do mundo, Clinton é uma indústria de peso para o estado. O William J. Clinton Presidential Center domina a cidade. Inaugurado em 2004 a um custo de 165 milhões de dólares, reúne a biblioteca presidencial, escritórios administrativos e a Clinton School of Public Service, que oferece o único mestrado em serviço público do país.
A agenda de FHC lembra as excursões que fazem doze países em sete dias. Cada hora é minuciosamente ocupada. Das 16 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, levam-no a uma recepção no amplo apartamento pessoal de Clinton, no último andar da biblioteca, com vista infinita para a cidade, o rio e a planície. Clinton não está presente. Há políticos e empresários locais, gente da sociedade. Umas cem pessoas se espalham pelos cômodos. Todas sorriem institucionalmente. Um pianista negro tocando Garota de Ipanema. Em estantes repletas de livros meticulosamente arrumados, nota-se um ecletismo incapaz de refletir os interesses de um só leitor: madre Teresa de Calcutá ao lado de Naipaul, Edna O’Brien junto a tratados sobre protestantismo americano. A idéia de vigor e juventude, tão cara à imagem rock’n’roll que Clinton fez questão de projetar, se traduz em quadros de inspiração expressionista cujo tema quase invariável é o ex-presidente e seu sax; certos traços, elétricos, parecem ter sido feitos por um gato que, sem sucesso, tentou se agarrar à tela. Fernando Henrique é levado ao quarto dos Clinton: visita o guarda-roupa deles, o banheiro. Com rigor prussiano, o apartamento se esvazia às 17 horas e 25 minutos.
Os próximos quinze minutos determinam uma visita à biblioteca presidencial. O anfitrião é Mack McLarty, um homem de 61 anos, baixo, impecavelmente educado e mãos muito pequenas. Amigo de infância de Clinton, foi chefe de sua Casa Civil. O roteiro é compacto: réplica em tamanho natural do Salão Oval, arquivos com a documentação presidencial e, por fim, num golpe de coreografia perfeita, um grande painel intitulado Comunidade Global, com imensas fotografias dos doze líderes de que Bill Clinton se sentiu mais próximo. Entre eles, dois ex-presos políticos (o checo Vaclav Havel e o sul-africano Nelson Mandela), um ditador (o chinês Jian Zemin), um rei (Hussein, da Jordânia, que contribuiu para a construção da biblioteca) e Fernando Henrique, que sorri, envaidecido.
Das 17 horas e 45 minutos às 18 horas, descanso. FHC é levado a um quartinho com duas poltronas e um sofá curto. Tira a almofada da poltrona, ajeita-a na cabeceira do sofá, deita-se. Vira de lado e encolhe as pernas — a posição fetal é a única viável. Pede que apaguem a luz.
Às 18 horas e 10 minutos, McLarty apresenta “o mais bem-sucedido presidente da história do Brasil”. Da soleira do grande salão, o homenageado ouve as palavras que costumam acompanhar discursos sobre o país: “Amazônia”, “Garota de Ipanema” e, novidade recente, “etanol”. Na platéia, aguardam-no cerca de 300 pessoas, entre as quais o prefeito, o vice-governador, empresários e senhoras da sociedade local, além dos 21 alunos da Clinton School. O convidado está cansado, pede desculpas — gostaria de falar de improviso, mas estava viajando havia quase treze horas. Começa a ler sua palestra, “Desafio à democracia na América Latina”. Falta ao Brasil “a convicção profunda de que a lei conta”, dirá. Uma hora depois, encerra a conferência com um floreio retórico: “Hoje, só o mercado produz coesão. Mas o mercado é bom para produzir lucros, não valores”.
É aplaudido de pé, e pelos vinte minutos seguintes autografará uma pilha de The Accidental President of Brazil, além de posar para dezenas de fotos de celular. Sorri em todas, mas desiste de arrumar o cabelo, que a essa altura adquiriu vida própria. Consulta a agenda numa brecha: das 19 horas e 30 minutos às 21 hora, jantar na casa de McLarty.
Às 21 horas e 30 minutos, quinze horas depois de sair do seu quarto em Providence, FHC é deixado na porta do hotel. Faz seu próprio check-in.
Às 8 horas e 45 minutos, estava a postos para o vôo Delta com destino a Atlanta, com conexão às 15 horas para Raleigh Durham, na Carolina do Norte. Desta vez, bilhete de executiva. O avião pousou às 11 horas em Atlanta, sem atrasos, o que significaria quatro horas de espera. Fernando Henrique buscou uma área tranqüila para rever seus papéis e fazer emendas na conferência programada para dali a dois dias, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Sentou-se ao lado de uma senhora que folheava a revista People e chupava um picolé. Meia hora depois atinou que, se era executiva, então dava direito a sala VIP. “E eu sofrendo no meio do povo à toa”, deduz, recolhendo seus papéis à pasta.
Às 13 horas e 30 minutos, sai em busca de um restaurante, sempre espantado com a quantidade de gente, com a obesidade generalizada, com o excesso de tudo. Ao avistar dois assentos vazios no balcão de um bar, instala-se antes que sejam ocupados. Acima de sua cabeça, há três TVs ligadas em três canais diferentes, um deles de rap. “Este é um país muito barulhento”, constata, quase gritando para ser ouvido. Sua salada Caesar lhe chega direto da geladeira, envolta em celofane. Ele ajuda com Coca light.
Anima-se com o compromisso em Chapel Hill, onde estará em um de seus ambientes naturais. Suas reminiscências se dividem entre a vida acadêmica — que trata com seriedade — e a vida política — de que gosta, embora tente disfarçar com doses de ironia.
“O melhor professor que tive no Brasil foi o Antonio Candido. As aulas, impecáveis, começavam e terminavam no horário, sem um minuto a mais ou a menos. Um raciocínio límpido, extraordinário. Candido é meu amigo, a ligação dele com o PT jamais foi um entrave. Nunca tive problemas com pessoas que discordaram de mim politicamente. Roberto Schwarz é meu amigo, esteve em casa outro dia mesmo. Agora, quando a divergência escorrega para o terreno pessoal, aí eu me desaponto. Quando dizem que fiz isso ou aquilo em busca de vantagem pessoal, acho imperdoável. Foi por isso que acabei me afastando de dois amigos – e só de dois: o Chico de Oliveira e a Maria da Conceição Tavares”, disse, referindo-se ao sociólogo que foi seu colega no Cebrap e à economista filiada ao PT.
FHC sai em defesa de seu sucessor quando o tema são ataques pessoais. “Não acredito que Lula tenha práticas de enriquecimento pessoal”, diz. “O que há é que ele é um pouco leniente. O partido ajuda daqui, ajuda dali e ele vai deixando, acha que é normal. No fundo, não há nada de muito grave nisso. Mas era melhor dizer: fulano me ajudou a comprar o apartamento, o partido me deu tal dinheiro. Lula não pensa em dinheiro. Ele gosta do poder, e gosta da vida boa.” É semelhante sua opinião sobre José Genoino e José Dirceu: “Genoino não é desonesto, Dirceu também não. Dirceu é outra coisa...” Sorri. Espera o raciocínio se completar: “Dirceu é o Putin que fracassou”.
Dentre amigos e colaboradores, é imensa a admiração intelectual por Pérsio Arida e André Lara Resende. Lamenta que tenham se retirado da vida pública e deixado de produzir: “Não deviam ter parado tão cedo. É que existe essa mania de ganhar dinheiro. Ganharam, e agora não sabem o que fazer. Eu digo: ‘André, você não pode ficar assim, volta a trabalhar’. Ele fica lá com o aviãozinho dele, pra cima e pra baixo. É uma loucura”, diz, enquanto fecha a conta. Não guarda canhotos de cartão de crédito. “Ruth guarda todos. Eu não, sou muito desorganizado”, gesto de quem não liga para dinheiro ou privilégio de quem não precisa mais se preocupar com essas coisas.
Se há um político brasileiro de quem Fernando Henrique não gosta é Delfim Netto. Em seu cauteloso livro de memórias, A Arte da Política, trata praticamente todos os personagens com luvas de pelica. Delfim é a exceção. “Não gosto mesmo”, reitera. “Ele atrapalhou muito o real, mas isso não é o mais importante. Um brigadeiro me trouxe um documento, nem sei se isso mais tarde se tornou público. Era uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, Costa e Silva presidente. A questão era cassar ou não o Covas. O ministro da Marinha, Rademaker, era um duro, defendia a cassação. Costa e Silva, que no fundo era um bonachão, contemporizava: ‘Por que não cassamos sem tirar os direitos políticos?’ Rademaker argumentava que não ia adiantar, ele se reelegeria. Havia um impasse. Foi quando se manifestou o ministro da Fazenda, o Delfim: ‘Esse eu conheço, é de Santos, um comunista’. Aí acabou: cassaram. Delfim mentiu. Covas nunca foi comunista, não era sequer ligado à esquerda. Era um janista, um conservador. Tenho horror ao Delfim.”
Delfim Netto nega a história com veemência. Afirma que não se faziam atas de processos de cassação e que chegou a ajudar Covas a arrumar emprego depois da cassação. “Que o Fernando apareça com a ata”, desafia, “ou vai passar por mentiroso.”
O presidente está hospedado numa residência que pertence à Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, a mais antiga instituição pública de ensino superior dos Estados Unidos. As instalações são estupendas. Chão de tábua corrida, solenes sofás de couro, poltronas de espaldar alto, mesas de jacarandá, retratos a óleo de personagens históricos, cenas de caça e uma mesa de bilhar de pano vermelho. O quarto de Fernando Henrique tem cama com baldaquino.
Às 11 da manhã ele aparece no salão, de jeans. Junto à lareira, com uma equipe amadora de filmagem, espera-o o professor de sociologia Arturo Escobar. Ao se dar conta de que a entrevista será gravada, FHC declara: “Estos pantalones non son presidenciales”. Vai até o quarto e volta de blazer e gravata. As perguntas, bem elaboradas, retomam concepções que desenvolveu há décadas. Como de hábito, ele se vê desafiado a defender a continuidade entre suas idéias como sociólogo e as que implementou como presidente. O neoliberalismo é uma espécie de assombração que ele se vê forçado a exorcizar a cada entrevista.
“O que houve não foi uma ruptura epistemológica no meu trajeto intelectual, mas uma ruptura ontológica no mundo”, afirma. “No final da década de 80, não estávamos mais enfrentando teorias, mas realidade. Olhamos o que existia e estava tudo aos pedaços. Estávamos falidos. Fomos forçados a privatizar, não havia outro jeito. Mesmo assim, não privatizei tudo — porque não era necessário. Acredito no papel do Estado.” Para Fernando Henrique, seu verdadeiro legado acadêmico é de ordem metodológica e não ideológica. Foi uma lição que aprendeu com Florestan Fernandes: “Colete todos os dados, compreenda todos os pontos de vista”, ensinava Florestan. “Minha mente não é tomista, estou sempre ligado à realidade, nunca me orientei por abstrações.”
Reage à idéia de que a América Latina estaria se voltando para a esquerda: “Não é esquerda, é populismo: o líder falando diretamente com as massas, sem o intermédio das instituições”. Esse é um ponto crucial. Se Chávez é percebido como progressista, imediatamente FHC se torna um conservador, rótulo do qual tenta se livrar a todo custo. Repetirá inúmeras vezes que o populismo é autoritário e regressivo. “Esquerda clássica é o Allende, esse sim queria romper com o sistema capitalista. Chávez opera no nível ideológico. Na prática, ele vende para os americanos e a burguesia venezuelana está ganhando dinheiro”, argumenta.
Antes de almoçar, volta ao quarto para repassar a programação. Entre aulas, almoços, palestras, conversas com alunos e jantares, a agenda prevê um compromisso a cada duas horas. Receberá honorários? “Acho que sim. Essas coisas eles não conversam comigo, mas vou perguntar lá no Brasil, porque do jeito que estão me fazendo trabalhar, tomara que o dinheiro seja bom.” Torce para que chegue a 10 mil dólares, no mínimo.
Depois de três dias à base de lanchonetes de aeroporto, Fernando Henrique senta-se feliz à mesa de um restaurante de verdade. Como é domingo, o que encontra é um brunch. Desconfiado, investiga o conteúdo de salvas de prata e rescaldeiros. Pega um prato e se serve, não sem antes consultar o cartãozinho diante de cada iguaria. Evita combinações menos ortodoxas. Ao redor, pessoas misturam costeletas de carneiro com panquecas, salmão com rabanada. “A Ruth sempre diz que os Estados Unidos precisavam ler Lévi-Strauss. O cru e o cozido, o doce e o amargo, esses contrastes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles misturam tudo”, diz, apontando um prato vizinho com indícios de peixe e melancia.
Ele come lentamente. Fala das diferenças entre os dois grandes nomes de seu partido e, certo de que seu tempo ficou para trás, não precisa mais sopesar cada palavra. “Sou mesmo a única oposição, mas estou me lixando para o que o Lula faz. O problema é a continuidade do que foi feito. Serra quer ser presidente e então vai àquele encontro dos governadores em que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi posta em xeque. De concessão em concessão, a vaca vai pro brejo. Serra não disse nada porque vai se beneficiar com isso. Ele seria um bom presidente. Quebra lanças. Aécio é mais conservador, acomoda mais. Isso dito, politicamente Aécio é fortíssimo. Pode ser menos preparado que o Serra, mas é popularíssimo. Não precisa provar mais nada. Serra precisa. O governo dele em São Paulo é que decidirá, e o início não foi brilhante. Agora, o Aécio gosta demais da vida privada dele. Pode parecer banal, mas é assim que as coisas funcionam. Com a presidência, muda tudo. Como ele não poderia mais ter a liberdade de que goza hoje, prefere pensar que tem tempo pela frente.”
Fernando Henrique atravessa o campus em direção ao clube, onde descansará até o próximo compromisso. Gosta de conversar enquanto caminha a passos lentos, as mãos trançadas nas costas: “Sou cartesiano com um pouco de candomblé. Porque, no Brasil, sendo só cartesiano não se vai longe. Já o Lula é o Macunaíma, o brasileiro sem caráter, que se acomoda”. A frase não soa pejorativa nem parece comportar um juízo moral. Para ele, Lula é aquele que se amolda, que nunca bate pé ou explicita suas posições. Um camaleão.
FHC é capaz de elogiar adversários históricos e criticar aliados. “Os militares fizeram coisas bem-feitas. De certa maneira, construíram um Estado. Telecomunicações é coisa deles. Collor, este sim, seguiu uma receita neoliberal burra e destruiu o Estado. Mas, antes dele, quem realmente desmanchou a máquina do Estado fomos nós da oposição, o PMDB, no governo Sarney. Foi quando começou o loteamento dos cargos, todo mundo querendo uma fatia, uma sede tremenda e o Sarney entregando. Tudo foi trocado contra favores, uma vergonha. O regime militar tinha ocupado as empresas estatais, militares reformados em diretorias, essas coisas. Com o PMDB, o que se loteou foi a máquina do Estado: ministérios, hospitais, todo tipo de órgão, até o mais insignificante, tudo. O Estado desapareceu, virou patrimônio dos políticos.” O próprio Fernando Henrique, no entanto, ao chegar à Presidência, parece ter concluído que política no Brasil era assim mesmo. Protegeu os três ministérios que considerava essenciais — Saúde, Educação e Fazenda — e entregou o resto aos de sempre, sob o argumento de que era isso ou a paralisia. Acomodou-se, a seu modo. Renan Calheiros foi seu ministro da Justiça.
Depois do almoço, novo encontro, agora com alunos escolhidos por mérito e excelência. FHC chega às 16h em ponto e troca palavras com quem já está ali. Quando chega finalmente a professora, traz um exemplar de Dependência e Desenvolvimento. Para espanto de todos, Fernando Henrique estica o braço e, fulminante, furta-lhe o livro. “Vejamos que edição é esta”, diz. “É que eles nunca me informam qual a edição e não me pagam” — abertura FHC III, a do homem comum. Os vinte e tanto alunos estão ganhos. Diante de seu realismo cético, um rapaz quer saber: “Quem explica o mundo de hoje?” “O maior erro dos pensadores sociais clássicos foi o sonho de produzir um mundo homogêneo. Isso jamais acontecerá. Hoje, o que falta é uma síntese, uma atualização de Marx e os outros. Quem sabe você não a faz?”, devolve ao rapaz. “Se fizer, por favor me cite.” E encerra com o velho sorriso do sedutor em tempo integral.
De banho tomado e terno repassado, FHC assumia na noite seguinte o pódio do auditório de Chapel Hill. Era o seu quarto compromisso do dia, uma palestra para 500 pessoas. Numa sala adjacente, outra centena o acompanharia por um telão. Falou durante uma hora, lendo vinte páginas de texto. Estava cansado, as palavras em inglês se atropelavam. Para adiantar o expediente, foi comendo etapas do raciocínio, acrescentando and so on and so forth, “e assim por diante”, às opiniões sobre Hugo Chávez, Evo Morales, globalização, fracasso da democracia. Aplaudiram-no de pé, talvez mais como reconhecimento ao esforço evidente e à simpatia que à clareza das idéias. Depois de uma longa sessão de fotografias — a invenção dos celulares que fotografam foi um mau momento para as celebridades, mesmo as acadêmicas —, terminou a noite numa lanchonete de estudantes especializada em pizza em fatias. O jantar custou 6 dólares.
Às 8 horas da manhã, comia com gosto um prato de panquecas regadas a maple syrup, seguidas de morangos com iogurte. Ia respondendo a perguntas: como comem os supremos mandatários? Banquetes de Estado são suculentos? Como é a comida em Buckingham, por exemplo? “Péssima!”, garante. “Agora, é de uma formalidade extraordinária. Primeiro, a rainha vem te receber em Victoria Station. Aí nós entramos numa carruagem para o trajeto até o palácio. Como estava frio, eles estenderam uma manta. Eu do lado da Elizabeth, a manta por cima da gente. Pensei: Ai, meu Deus, agora é que minha perna encosta na da rainha.” No palácio, foi apresentado a seus aposentos: “Ela mostra tudo: abre as gavetas, abre os armários, mostra o banheiro, mostra o chuveiro, é estranhíssimo. Depois vem a troca de presentes. Só que o Itamaraty nunca me dizia o que eu ia dar e eu peguei o primeiro que estava na minha frente. Ela ficou espantadíssima: ‘But it is my horse!’ — era um óleo do cavalo dela. Fiquei contente, ela havia gostado. Só então me dei conta do desastre: eu tinha acabado de presentear a rainha com o presente que ela ia me dar. O Rubens Barbosa, o embaixador, preparara durante meses o jantar de homenagem que ofereceríamos na nossa embaixada. Os royals chegaram todos, e nos sentamos à mesa. A Margareth, que é meio diferente, às tantas gritou para a rainha, lá do outro lado da mesa: ‘Lilibeth, this wine is very bad!’ — aquele silêncio. A rainha ficou vermelha, furiosa. E não é que tinha razão? O vinho havia passado do ponto. Ela é divertida. Durante a recepção, apontava a Elizabeth e repetia: ‘The queen wants a dry martini’. E a rainha respondia, cada vez mais vermelhinha, bravíssima: ‘I do not want a dry martini’.”.
Fernando Henrique é Cavaleiro da Ordem de Bath: “Minhas filhas podem se casar na catedral de Westminster, eu posso ser enterrado lá e tenho direito a tomar banho com a rainha”. Não pretende exercer o terceiro privilégio e tentou em vão convencer a filha Bia a fazer uso do primeiro. Quanto ao segundo, “já disse à Ruth: junto o meu dinheirinho e quando morrer vou pra lá de avião, direto pra Westminster”. Ele brinca, mas gosta das liturgias do Velho Mundo. No Brasil, seria difícil manter qualquer sonho hierático. “Parada militar no Brasil é pobre pra burro”, observa o homem que teve de presidir a oito festejos de 7 de Setembro. “Brasileiro não sabe marchar, eles sambam. Somos o povo menos marcial do planeta.” Chateação sem tamanho: “A cada bandeira de regimento, a gente tinha de levantar, era um senta-levanta infindável”, lembra-se com um esgar de pavor. Sem falar dos cabelos: “Em setembro venta muito em Brasília, então o cabelo fica ao contrário”.
Fernando Henrique termina o café e segue para o aeroporto. Seu destino é Madri, com escala em Nova York, em classe executiva na travessia do Atlântico. Depois do jantar a bordo, alterna a leitura de A Marcha da Insensatez, da historiadora americana Barbara Tuchman (em tradução), com um thriller estrelado por Nicolas Cage. No Aeroporto de Barajas, de manhã, pela primeira vez recebe tratamento de ex-chefe de Estado. Um carro e dois funcionários do Itamaraty o aguardam na pista. É levado a uma sala onde alguém se encarrega dos trâmites de imigração e alfândega.
Dali a seis horas estaria sentado em torno de uma mesa em forma de U, numa sala confortável no subsolo do hotel Grand Meliá Fénix. Era a reunião do comitê executivo do Clube de Madri, que já presidira. A organização reúne 66 ex-governantes. Clinton é presidente honorário, o gigante ausente sobre o qual todos falam. Estão ali, entre outros, dois ex-presidentes da Colômbia, Andrés Pastrana e César Gaviria, que não larga o celular; as ex-presidentes da Irlanda e da Islândia, a severa Mary Robinson e a silenciosa Vigdis Finnbogadóttir; o ex-presidente de Moçambique Joaquim Chissano; os ex-primeiros-ministros da Bulgária e da Romênia Philip Dimitrov e Peter Roman (que passa parte da reunião folheando um jornal). À direita de FHC, está o ex-primeiro-ministro da Noruega (“Esse é novo, caiu há pouco tempo”, explicará mais tarde). Ricardo Lagos, do Chile, é o novo presidente do Clube.
É uma reunião árida. Questões administrativas, financeiras e de agenda são tratadas ao longo de três horas. O aperto fiscal parece premente. César Gaviria, dadas as dificuldades financeiras, chega a sugerir que o Clube vá buscar recursos junto a empresas espanholas. “Podíamos até pôr o logotipo delas naqueles painéis atrás de nós quando a gente fala em eventos...” A sugestão é prontamente rechaçada por Mary Robinson, com voz de chumbo: “Não me agradaria ver o Clube associado a determinadas empresas”.
Fernando Henrique sugere restringir um pouco a extensa agenda do ano: aquecimento global, Darfur, apoio à reforma constitucional no Equador, liberdade de associação em países muçulmanos da África, construção de uma sociedade democrática no Kosovo. Passam a uma longuíssima discussão — quarenta minutos — sobre a situação kosovar. Está em causa a conveniência ou não de enviar um representante do Clube a um seminário sobre a independência da região. Alguns membros fincam olhares perdidos nas paredes brancas, outros se distraem com rabisquinhos em papel timbrado do Clube.
À noite, Fernando Henrique vai a um restaurante especializado em cabrito, sua primeira refeição européia. Para quem veio de uma temporada nos Estados Unidos, a alegria é grande.
O ex-presidente dormiu bem aquela noite. Tão bem que, às 9 da manhã, um ônibus com todos os ex-governantes a bordo esperava por ele — em vão. O Clube de Madri co-patrocinava uma conferência internacional sobre cidades globais e era imperativo que seus membros chegassem na hora, sob pena de fazer naufragar o evento. Ricardo Lagos abriria a conferência. A responsável pelo protocolo, uma moça eficientíssima, decidiu que não esperava mais. O ônibus partiu com quinze minutos de atraso, a reboque de batedores que lhe abriam caminho para o centro de conferências. FHC surgiu no lobby do hotel a tempo apenas de ver o comboio se afastar. Esticou o braço e foi de táxi.
A primeira mesa-redonda, “Protagonismo da grande cidade e o papel das políticas públicas”, dura quase duas horas. Na primeira fila, César Gaviria dorme à larga, a cabeça para trás. Fernando Henrique cochila discretamente, com o rosto apoiado na mão, como se refletisse. Na segunda mesa, “Instrumentos ‘suaves’ de política urbanística”, caberá a ele sintetizar as idéias expostas. Duas horas depois, assume o microfone: “Não tenho muito a acrescentar porque minha única experiência com cidades foi a eleição que perdi para prefeito de São Paulo”, desdenha, numa típica abertura FHC II. Passa então a rechear sua fala com a “coesão mecânica” e a “coesão orgânica” de Durkheim (mais tarde, no táxi: “É o bê-á-bá da sociologia. Olhei em volta, vi que não tinha um sociólogo, mandei ver”), e citações ao sociólogo alemão Tönnies, que explora os conceitos de sociedade e comunidade ou, no original, Gemeinschaft e Gesellschaft, como soltou Fernando Henrique em bom sotaque. Foi o quanto bastou para inspirar pasmo e aplausos de admiração. (No mesmo táxi: “São as únicas palavras que sei em alemão”.)
No dia seguinte, Ruth Cardoso e a neta Julia juntaram-se a Fernando Henrique. A menina acabara de completar 18 anos e passaria uma semana viajando pela Espanha com os avós. Por volta das 11 horas, foram ao Museu Thyssen-Bornemisza, ver uma exposição temporária de retratos. Fernando Henrique faz fila diante do caixa, paga e volta exultante: “É a vitória do proletariado. Só 10 euros, pra mim, Ruth e Julia! E a moça ainda me pediu a carteira de identidade, pra comprovar se eu tinha mesmo 75 anos”.
O presidente admira um Picasso neoclássico — Olga na Cadeira, de 1924, à moda de Ingres —, o que lhe dará ocasião de praticar um de seus divertimentos prediletos: implicar com as idéias progressistas de dona Ruth. “Mas isso é absolutamente acadêmico”, ela se choca. “Ele só pintou porque ela estava cansada de ser retratada com dois olhos do mesmo lado. Deve ter pedido: ‘Faz um retrato bonito, vai’. Aí, ele fez.” FHC rebate: “Não é isso, não. É que Picasso é absolutamente genial. Dá cambalhota. É Deus”. Dona Ruth: “Gênio, mas não por isso. Pelo que pintou antes”. Ele: “É gênio, Ruth. Faz de tudo”. E, antecipando o gostinho, encerra o sparring: “Aliás, eu me identifico muito com Picasso”. Dona Ruth se vira para a neta e aconselha: “Não ouve isso, Julia”.
À noite, amigos convidam a família Cardoso para um show de flamenco. A mesa é colada ao palco. A cada arranco do dançarino, que bate furiosamente os pés no chão, o presidente recua na cadeira, assustado.
Para o último jantar de FHC em Madri, no dia seguinte, ele, dona Ruth, Julia e um casal de amigos vão a um restaurante simplíssimo, quase um botequim. Oito mesas, se tanto. O ex-presidente vai direto para a cozinha e volta feliz: “Ganhei quatro votos”, anuncia. As paredes são cobertas de fotografias — toureiros, políticos, o príncipe das Astúrias. “Vou ver as fotos”, diz, e levanta de novo. Chegam croquetes, morcela, aspargos, queijo. Ele se farta. “A Ruth tinha essa educação comunista com os filhos, essa história de dividir tudo, inclusive a comida boa que de vez em quando eu trazia pra casa. Depois de um tempo, passei a lamber o chocolate na frente deles, pra ninguém meter a mão.” “O camembert ele escondia no armário”, confirma Ruth Cardoso. De sobremesa, Fernando Henrique derruba um prato de arroz-doce e se encanta quando descobre que ali servem rabanada também. Come rabanada a valer. Ao saber quem é o cliente, dono e funcionários do restaurante pedem fotos. FHC volta à minúscula cozinha e, junto do forno, posa com quatro empregados, todos com cara de mexicano. “Pronto, agora consolidei o voto”, comemora. Alguém comenta: “Consolidou. No México”.
Ruth Cardoso registra tudo, sem dar muita atenção. Se há alguém que não cai nos números do marido, é ela. Conta de uma viagem a Buenos Aires, quando passeavam pelo bairro da Recoleta e foram reconhecidos por um ônibus de turistas brasileiros. Confusão instalada, desceram todos e começaram a bater fotos. O sorriso de FHC se abre feito uma cortina. “Olha só pra ele”, alfineta Ruth Cardoso. “Deviam ser todos petistas, Fernando, e você não passava de atração turística.” Ele não se dá por vencido: “Em restaurantes de Buenos Aires eu sou aplaudido quando entro. É que eu traí os interesses da pátria, então lá eles me adoram”. A neta Julia balança a cabeça: “Como é que ele diz essas barbaridades...”



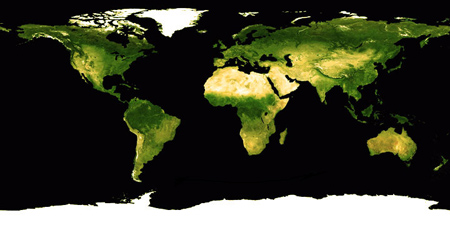
Um comentário:
Não aguentei ler tudo mas achei legal.
Postar um comentário